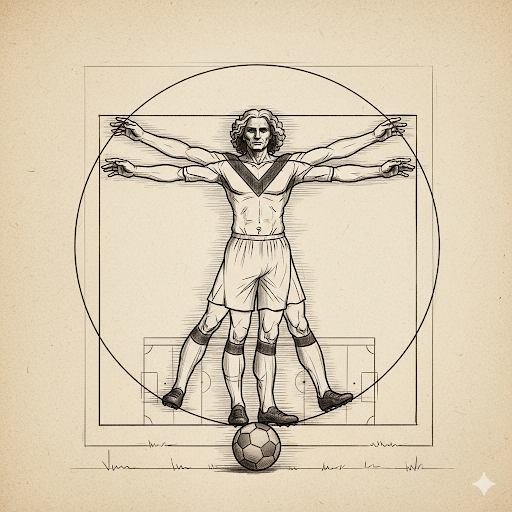Por: Manuel Sérgio
O futebol, como qualquer outra modalidade desportiva é, para mim, uma das formas da motricidade humana – como é lógico! Embora a pretensa cientificidade de muitos comentadores do futebol seja proporcional à sua “desumanidade”, quero eu dizer: quanto mais falam de futebol menos humano se revela o seu discurso.
É verdade que, desde os inícios do pensamento moderno, mormente com Galileu e Descartes, o “homem” e a “ciência” sempre se constituíram como duas realidades estranhas uma à outra: a inteligência, a personalidade, os sentimentos humanos não podiam pesar-se, medir-se, quantificar-se – não eram, com toda a certeza, científicos. Demais, a ciência moderna nasce e desenvolve-se mecanicista. O universo é uma imensa máquina, composta por um enorme conjunto de máquinas cujas leis importa conhecê-las. E, por isso, Deus é o divino engenheiro, onipotente criador de um universo que pode ser estudado, matematicamente. Não é de estranhar assim que os filósofos e os cientistas de mais ampla inteligência teorizadora tenham comparado o Mundo a um relógio.
O homem-máquina de La Mettrie (1709-1751), filósofo materialista e médico que pretende ensinar que, no mundo todo, só matéria se encontra e é dessa matéria que o ser humano (e tudo) nasce e de que o ser humano é feito – La Mettrie, minucioso e irônico, não abandona o mecanicismo, apontando as leis mecânicas que regem, segundo ele, as funções do corpo de um ser vivo. Um ponto a realçar: a partir desta altura, o sábio deixa de ser o clérigo aristotélico-tomista e passa a ser um leigo, uma pessoa que sabe que não tem a verdade, mas que imparavelmente a procura, pela razão e pela reflexão e pelo método experimental. No meu modesto entender, a história das ciências, que vai de Copérnico (1473-1543) a Newton (1643 1727) é de um progresso admirável e prepara o Iluminismo e informa, claramente, a Revolução Francesa…
Não surpreende portanto que Ciência, Razão e Progresso caminhassem de mãos dadas e que, quando pela primeira vez, no século XVIII, a expressão Educação Física (que integrava a Ginástica, os Jogos e os Desportos) tenha surgido, no vocabulário científico, os exercícios ginásticos se destinassem ao homem-máquina, a um corpo-instrumento que a Razão esclarecia.
Vale a pena reler a Proposta de Lei, de 25 de Fevereiro de 1939, apresentada à Assembleia Nacional para a criação do INEF (Instituto Nacional de Educação Física) português, onde assim se define a Educação Física: “é uma ação intencional que o homem, devidamente dirigido, exerce sobre si mesmo, pela prática racional, sistemática dos exercícios físicos – ginástica, jogos, desportos – metódica e conscientemente executados, como complemento essencial dos restantes meios educativos e higiênicos e tendo como objetivos imediatos a saúde, beleza, força, resistência, disciplina, prontidão, espírito de solidariedade, optimismo, confiança em si, domínio de si próprio, coragem, prudência, caráter, personalidade, tornando o corpo o digno instrumento de uma vontade esclarecida”.
Como se vê, uma antropagogia, ou teoria da formação do ser humano, assente no corpo-instrumento e apontando para uma antropologia declaradamente dualista. Enfim, a dicotomia corpo-mente, sentimentos consciência, natureza-cultura emergia da educação física até meados do século XX. Muita gente que pontifica, no desporto nacional e internacional, ainda não ultrapassou, nem o mecanicismo cartesiano, nem o solo epistemológico do positivismo.
Ousaria mesmo escrever que, no futebol, há muita gente que pensa que sabe explicar o futebol, sem nunca o ter compreendido.
Compreendido? Sim, porque ao nível do humano nada escapa à ordem dos valores e das significações, mesmo como exigência do rigor metodológico.
O que eu aconselharia aos “agentes do futebol”?… Digo isto, após uma severa autocrítica (porque, à boa maneira socrática: só sei que nada sei): um corte epistemológico, em relação à pré-ciência de um senso comum que analisa o futebol, sem descontinuidade, nos problemas e na linguagem.
O curso de um conhecimento verdadeiramente científico não é linear, o seu grande objetivo é respeitar o Passado, mas construir o Futuro, o que implica pôr de lado e rejeitar muito do que a tradição nos oferece. “A exigência de objetividade, no sentido de objetivação, leva-nos necessariamente a descartar o caráter meramente acumulativo e continuísta do saber, bem como a fazer da ideia de progresso descontínuo a espinha dorsal de toda a cientificidade. Se é assim, também esse progresso precisa ser pensado em termos de ruptura” (Hilton Japiassu, Nascimento e Morte das Ciências Humanas, Francisco Alves editora, p. 145).
Ruptura, em primeiro lugar com uma organização apressada e desleixada dos clubes. Há dirigentes desportivos de exemplar amor pelos seus clubes, mas sem especialização bastante para, atualmente, organizarem um clube com alta competição, ou alto rendimento.
Já é clássica a definição de Peter F. Drucker: “Uma organização é um grupo humano composto por especialistas que trabalham numa tarefa comum (…). Uma organização é sempre especializada. Define-se pelas suas tarefas (…). Uma organização só é eficaz, se se concentrar numa tarefa. Uma orquestra sinfônica não tenta curar doentes, toca música. Um hospital cuida dos doentes, mas não procura tocar Beethoven (…).
A sociedade, a comunidade e a família, são as organizações que fazem (Sociedade Pós-Capitalista, Atual Editora, Lisboa, 2003, pp. 61/62). E, para as organizações fazerem, é imprescindível o contributo de direções competentes.
Donde, logicamente se conclui que organizar é tornar produtivos os conhecimentos. Mas, no âmbito das ciências humanas, um especialista é tanto mais eficaz quanto mais tiver em conta a complexidade humana, presente em todos os elementos que a constituem. Num treino de dominância física, o jogador de futebol (o atleta) é um ser de sentimentos.
E se ele se encontra incompatibilizado com o treinador?… E, se nesse dia o pai está gravemente doente?… E se um dos filhos ficou em casa, com febre alta?… É evidente que, assim, o treino se transforma num espaço de insanável aborrecimento e, nalguns casos, de aversão. Não passo sem sublinhar as palavras de António Damásio à revista do Expresso, de 2017/10/28: “Os humanos não têm apenas a inteligência, têm por exemplo a linguagem. E temos uma socialidade muito mais complexa do que a de outras criaturas. E os impulsos criativos. E, analisando estas respostas, vemos a ideia. A ideia forte é a de que tudo o que há de bom e de bem, tudo o que ajudou instrumentalmente a criar culturas nunca teria acontecido se não tivéssemos sentimentos. Sentimentos, ora de dor e sofrimento, ora de plenitude e prazer”. E diz mais adiante, numa entrevista superiormente conduzida por uma jornalista com dotes notórios para o jornalismo (o que nem sempre sucede) e pessoa culta, que se topa no seu infatigável interrogar: “O sentimento é a representação do imperativo homeostático”. O que é peculiar no jogador, por ser homem, é secundário e acaba por reduzir-se às necessidades primárias da tática, nos “estudos” de alguns pseudo-especialistas.
Não, eu não digo que a tática não é importante, o que eu digo é que não é essencial. Só podemos esperar respostas humanas dos jogadores, se os respeitarmos (e estudarmos) como homens. Só assim podemos fazer ciência… nas ciências humanas! Mas eu vou continuar com este tema.
Artigo originalmente escrito e cedido a Universidade do Futebol pela Revista Futebol Estudado, no seguinte endereço: https://www.revistafutebolestudado.com