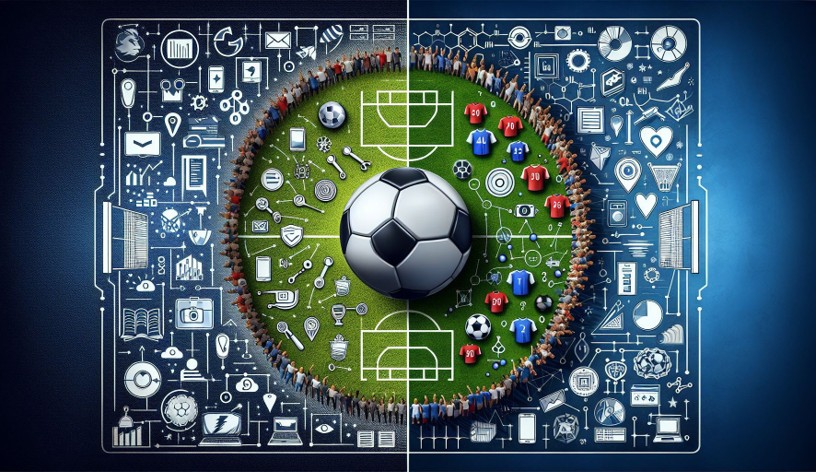Por: João Batista Freire
Dedicado a Pepe Mujica, que disse:
“O único vício bom é o amor, o resto são pragas”
Para que tenhamos o direito e a coragem de pensar com liberdade e independência. Não precisamos de autorização para pensar.
Percebo que há alguma confusão a respeito do termo “Pedagogia da Rua”, desde que o lancei anos atrás. A confusão, acredito, dá-se pela dificuldade em torno de dois conceitos que compõem o termo: “Pedagogia” e “Rua”. Comecemos pelo segundo.
Rua, eu a utilizo como metáfora. Quer dizer muita coisa. Rua são todos os lugares e momentos que me levam a aprender alguma coisa sem ter alguém encarregado de me ensinar. Rua é onde aprendi muitas coisas, algumas nunca respeitadas como saberes; na Rua aprendi a rir e chorar, aprendi a falar, aprendi a amar, aprendi também a odiar, aprendi coisas simples como contemplar, me aproximar, ver e ouvir, também tocar e degustar. Na Rua aprendi a ter medo, aprendi a ceder ao medo e a ter coragem de superá-lo. Aprendi a ser fiel e infiel, aprendi a chutar bola, a me esconder e procurar, a jogar bolinhas de gude, a brincar de casinha, de comidinha e de bonecas. Aprendi tantas coisas na Rua, coisas boas e coisa ruins, que não cabem todas aqui. Aprendi que para a Rua não há coisas boas e ruins, e é aí que moram a virtude e o perigo. A Rua é uma escola sem nome, uma professora invisível, sem intenções e julgamentos, um outro jeito de aprender, completamente diferente dos jeitos utilizados nas instituições encarregadas de educar as pessoas. Mas se na Rua há pessoas e eu aprendo com elas, elas me julgarão. Sim, mas são elas que julgam, não a Rua.
Assim que nascemos a família começa a nos ensinar. No começo ela ensina sobre segurança e comportamentos básicos e, em seguida, passa a incutir na criança seus conceitos morais, sua ideologia. Se seguíssemos assim, teríamos enormes chances de crescer e ser como nossos pais e familiares mais próximos. Mas não é como funciona. Mesmo nesse comecinho existe outro espaço de aprendizagem, que inclui a mãe, essa professora primordial, a professora que não sabe que é professora, aquela que ensina como se fosse nossa natureza ensinando. A mãe que semeia o amor que a sociedade deveria cultivar. Tem a mãe e tem os sons, pessoas falando, ruídos, objetos para tocar, sabores para degustar, muita, muita coisa que não pretende ensinar, mas que nos faz aprender. Porém, muito acontece fora da família, e o destino traçado por ela sofrerá desvios, cada vez mais precoces.
Pouco depois do nascimento, somos levados para creches e escolas. A escola começa cedo, aos dois anos de idade, os pais precisam trabalhar, alguém tem que cuidar. A escola também nos ensina comportamentos básicos, segurança e sua ideologia, que é a ideologia do estado e das corporações. A igreja faz de tudo para atuar na educação da criança, e o faz dentro e fora da escola. A instituição militar, com menos frequência, também. O esporte, quando a criança tem a oportunidade de aprendê-lo em instituições, é outro que exerce forte influência. Parte das escolas é de caráter privado, e ensinam, não só a ideologia do estado, mas também a ideologia dos interesses privados. Todos querem seu quinhão da criança que não tem nunca razão, é a criatura a ser medida, moldada, tosquiada. Querem formar nelas cidadãos que acatem as regras, as ordens, que sigam o destino traçado. Os conteúdos declarados pela escola – português, matemática, geografia, química… -, boa parte das vezes não passam de adereços. Nem todos os aprendem. A escola sabe disso, mas não se importa, porque os verdadeiros conteúdos não podem ser declarados, são o mapa de um destino. Por falta de outros significados, os conteúdos declarados pela escola serão avaliados em frequentes provas, infelizmente a maior razão para aprendê-los. Deveriam ter vínculos com as vidas dos alunos e, aí sim, seriam significativos. A questão a ser colocada é: aquilo que a escola ensina cai na prova ou cai na vida?
Um capítulo à parte, ou um texto à parte, deve ser reservado à educação exercida pelos meios de comunicação, especialmente, em nossos tempos, trazida pelos ventos da Internet. Ter um celular à mão deveria fazer parte do que chamo aqui de Rua, mas não, os conteúdos das telinhas foram quase todos sequestrados pelos interesses públicos e privados. Elas são a nova e mais poderosa ferramenta de educação atual. Por trás delas estão os educadores mais poderosos do planeta. Por trás delas atuam o estado, várias instituições e as corporações privadas, estas últimas, as mais agressivas, porquanto vendem seus celulares, que educarão as pessoas para que comprem seus aparelhos, entre eles os próprios celulares.
Parece que tudo conflui para que sigamos, pelo resto da vida, um roteiro traçado finamente, irrepreensivelmente, sem final feliz. Por qual motivo então, com tanta frequência, nos desviamos? Por qual motivo tantos de nós seguem caminhos tão diferentes dos sonhados por nossos pais, pelas corporações, pelo estado ou por outras instituições? Que ruídos desviantes são esses? São os ruídos da Rua.
Eu queria escrever este ensaio, mas me faltava inspiração. Precisei de ajuda e fui ler alguns autores. Li o que pensa Mano Brown, poeta e filósofo, alguém suficientemente sensível para entender o povo, para entender a Rua. Um extraordinário artista. Com palavras mais poéticas que as minhas e com mais sabedoria, ele descreve alguns dos ruídos: “Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo”. “Às vezes eu penso que o Brasil foi construído em cima de uma pirâmide de injustiças”. “Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber”. “A comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo vai perder mesmo”. Não sou poeta, não sou compositor, não tenho arte, só posso escrever o que está ao meu alcance. E aqui me proponho a escrever sobre a Rua e seus ruídos desviantes dos caminhos tão bem traçados para todos nós.
Onde aprendemos o que sabemos? Uma parte aprendemos na família e nas instituições, embora estas não declarem o que verdadeiramente pretendem nos ensinar. A família e a escola, por exemplo, tomam como referência de educação aquele que ensina, muito mais do que aquele que aprende. Se é para traçar um destino irrevogável, o destinatário não deve interferir. O resto do que sabemos, e é muito, aprendemos na Rua, esta sim, sem a intenção de exercer controles, sem plano de destino traçado e sem tomar como referência aquele que ensina, até porque não há um visível que ensine. Na Rua o ponto de vista do processo educacional é aquele que aprende. Fora esse o ponto de vista da escola e de outras instituições teríamos uma revolução. Lembro, nesse ponto, de minha infância na escola, preso ao meu meio metro quadrado de carteira, sonolento e balançando as pernas sob a mesa, único movimento possível. Até quando a professora me pilhava nesse movimento proibido e batia com a régua na carteira para me lembrar que qualquer movimento seria castigado. Ela era muito querida, mas tinha que seguir a regra da régua. Não foi por falta de boas professoras que não aprendi, mas porque não via sentido no que aprendia, a não ser porque caia na prova. Dona Jaci e Dona Célia eram quase nossas mães. Mas todo movimento que não fosse com as mãos era proibido. Mesmo assim aprendi com elas uma boa porção de bondade e carinho, mas não matemática e português. Quem sabe essas matérias do coração não deveriam ser as protagonistas, dando à matemática e português o papel de coadjuvantes? Quando Dona Jaci pegava em minha mão para desenhar as letras, deixava marcas que nunca se apagaram. Isso era educação para a vida.
Embora a Rua esteja fortemente influenciada pelas redes sociais, uma vez que boa parte das pessoas nada faz sem uma tela à frente do rosto, é nela que aprendemos a maior parte do que precisamos saber para viver nossos dia-a-dias. Raramente nos perguntamos de onde veio o conhecimento para construções tão extraordinárias como o samba, o futebol brasileiro e a capoeira. Não foram passes de mágica. Aprendemos a fazer essas coisas do mesmo modo como uma criança aprende a resolver sozinha um quebra-cabeças, a rolar por um gramado, a medir forças com uma colega, a assobiar ou a andar de bicicleta – basta que ela tenha um modelo inicial em mente ou à sua frente para iniciar a aprendizagem. Como aprendemos a fazer o incrível cálculo prático que nos permite atravessar uma rua movimentada evitando os carros? Milhares ou milhões de exemplos possíveis atestam a competência da Rua para nos ensinar a viver, para o bem ou para o mal. Ou alguém acha fácil aprender a traficar drogas? A Rua é, no sentido de nos ensinar a viver, depois da mãe, a grande professora de nossas vidas, a professora invisível, e a única em que o ponto de vista para aprender é o nosso próprio.
A Rua pode ser uma rua mesmo, dessas por onde passamos todos os dias, ladeada por calçadas. No meio dela passam carros de todos os tipos, pode ser asfaltada, calçada por pedras, ser de terra ou areia, ser chamada de rodovia, avenida, servidão, viela ou somente rua. A Rua pode ser o quintal de casa onde as crianças se reúnem sem a presença de adultos, pode ser o pátio da escola, a quadra do condomínio, o quarto de dormir, a mesa do bar, a festa, o encontro fortuito entre pessoas etc., ou seja, qualquer espaço onde podemos aprender sem a presença de pessoas ou instrumentos autorizados a ensinar. A Rua é habitada por crianças e por gente grande. Ensina a todos. As ruas da minha vida foram muitas, entre elas o pátio da minha primeira escola, uma pequena área de cimento de minha casa, e o campinho de terra onde chutei bola pela primeira vez. Interessa-me, neste estudo, acima de tudo o meu campinho de terra e os outros onde milhares de meninos e meninas do Brasil brincam de jogar bola. Porém, como se trata de diminuir as dúvidas sobre o que vem a ser Rua, não me aprofundarei na complexidade do jogo de bola nas ruas do meu país. O fato é que, nessa Rua, eu e meus amigos aprendíamos, e muito. Aprendi mais nela que na escola. Sei disso pelo que sei hoje. E sei que eu queria aprender na Rua mas não queria aprender na escola. E, ao longo de minha vida, não tenho dúvidas de que aprendi mais nas tantas ruas da Rua que nas tantas escolas por onde passei. E, mesmo nas escolas, quando mais aprendi foi quando consegui transformar a escola em Rua. Provavelmente o caso mais extraordinário de educação da Rua é a aprendizagem da língua materna. A criança, de maneira geral, aprende a falar nos primeiros dois anos de vida, em família. Não há ninguém na família responsável por lhe ensinar a língua. Porém, ao fim desses dois anos ela fala suficientemente bem sua língua para se comunicar com sua família. Aprende pelo convívio, aprende repetindo o que ouve, aprende por se divertir com sons até se tornar habilidosa em articular tais sons, aprende por relacionar os sons com os efeitos deles, aprende porque é necessário, aprende porque faz sentido falar no contexto da família, aprende porque está aprendendo de seu ponto de vista no grupo familiar. Aprende com método, com técnicas, e isso poderia inspirar todas as outras aprendizagens formais, mas isso não acontece. Essa maneira de aprender se repete em todos os outros grupos de que a criança participará. Assim como essa aprendizagem da fala foi lúdica, as demais em grupos infantis também serão. Nas pequenas sociedades lúdicas a criança recebe, em troca de seus esforços, de suas renúncias, prazer, o prazer que o lúdico confere. E por ser gostoso ter essa sensação, ela tende a repetir o que fez, o que deu certo. E quando erra, por não ter a mesma sensação, ela busca corrigir o erro para obter o retorno prazeroso e poder repetir a ação causadora do prazer. Não foi assim que todos nós aprendemos a língua materna? Os sons produzidos e ouvidos pela criança são fonte de prazer, que precisa ser mantida, e a única forma de manter tal prazer é repetir e repetir tais sons. O resultado é o desenvolvimento da extraordinária habilidade de articular sons, que viram vocábulos, que viram palavras, que viram frases… A mesma lógica é válida para aprender qualquer coisa, do futebol à astrofísica, o que me faz pensar em uma Pedagogia da Rua, uma pedagogia inspirada nas aprendizagens das crianças em suas Pequenas Sociedades Lúdicas.
A competência da Rua para ensinar é extraordinária, e estou convencido de que isso deve-se ao fato de que, na educação da Rua (reparem que não estou falando de pedagogia da Rua), quem aprende, aprende de seu ponto de vista. Na Rua, não há ensino, há aprendizagem (e não estou pregando que não haja ensino nas escolas e outras instituições). Essa educação é tão eficaz que os meninos brasileiros do começo do século XX, pobres pretos e brancos, moradores das periferias das cidades, inventaram um novo jeito de jogar futebol: o futebol brasileiro, que encantou o mundo por décadas. Foram criadores apenas de um dos fenômenos culturais mais importantes do século XX e um dos maiores fenômenos culturais da história do Brasil. Quem aprende isso, aprende qualquer coisa, desde que o método respeite aquele que aprende. E isso remete para uma particularidade da educação, que é a formação de grupos. De maneira geral, na infância, a Rua constitui grupos, que chamarei aqui de Pequenas Sociedades Lúdicas. Não é só em grupos que se aprende, mas, especialmente na infância, é por fazer parte de grupos lúdicos que a criança mais aprende. No grupo, as aprendizagens realizadas fazem sentido, aquilo que a criança faz tem sentido dentro do grupo. Ela aprende aquilo que a faz se sentir pertencendo ao grupo, aprende aquilo que a confirma, que lhe confere identidade, que eleva sua autoestima. O lúdico e a autoestima são os motores das pequenas sociedades lúdicas.
Pronto, isto é Rua. Não é suficiente, mas é o possível em um pequeno texto.
Posto isso, podemos passar à outra parte do termo, isto é, Pedagogia. A pedagogia é um arranjo de elementos que orienta um processo educacional, cujas raízes são realizações práticas. O modo como o observador enxerga tais realizações o conduz a descrever e interpretar o fenômeno ao seu modo, donde resultam muitas teorias educacionais, às vezes, sobre o mesmo fenômeno, se os observadores forem vários. Essas teorias resultantes das observações práticas, arranjadas de modo a pretender orientar processos educacionais, nós as chamamos de pedagogias. Elas comportam um modo de educar, um método. Portanto, uma pedagogia é uma teoria da educação, assim como uma metodologia é uma teoria do método. Daí resulta que não podemos falar de uma pedagogia da Rua enquanto as crianças aprendem nas suas ruas, mas sim de uma educação da Rua. Ou seja, a Rua educa, mas a rua não tem uma Pedagogia. Ela não tem uma pedagogia, mas pode e deve inspirar pedagogias, porquanto sua eficácia é inegável. A criança aprende com imensa eficácia a língua materna, orientada por esse método da Rua (método no sentido de procedimentos, de maneira de fazer as coisas), e não aprende, de maneira geral, o que lhe pretende ensinar a escola. Não por falta de tempo, pois que são quatro horas por dia, duzentos dias por ano, durante doze anos de escolaridade (até que se conclua a adolescência). O ambiente escolar é constituído por prédios fechados, salas retangulares fechadas, repletas de carteiras simetricamente dispostas, onde terão que se sentar as crianças, em seus exíguos espaços de movimentação de meio metro quadrado. Isso não é ambiente para criança aprender, a não ser comportamentos morais, passividade etc. Na Rua, com suas pequenas sociedades lúdicas o ambiente é completamente diferente, a criança aprende o que não lhe ensinam, e aprende muito bem, para o bem ou para o mal. Esse modo de aprender, se inspirasse uma pedagogia, eu a chamaria de Pedagogia da Rua, que poderia ser adaptada, inclusive, ao ambiente escolar, caso houvesse interesse da escola em verdadeiramente ensinar para um bem viver, para um mundo melhor, mais justo. Nessa Pedagogia da Rua, diferentemente do que ocorre na educação da Rua, há quem ensine, porém, o modo de ensinar deve ser completamente diferente do que ocorre tradicionalmente na escola. Há ensino, mas o ponto de vista, a referência, é o do aluno, o de quem aprende, e não o de quem ensina. Vamos ensinar Matemática, por exemplo, mas vamos tomar como referência o modo de aprender do aluno, para então ajustar nosso modo de ensinar. Vamos ensinar Futebol, mas vamos tomar como referência o ponto de vista de quem aprende.
Na Rua, não é a idade que define a entrada da criança. Ela participa de grupos de crianças que são, aproximadamente, da sua idade, mas vai conviver com mais novos e mais velhos, também. Outro critério é o interesse que ela demonstra, de acordo com sua vontade de participar do grupo, do tipo de brincadeira que se realiza nele etc. Também existe a questão da oportunidade, do local onde reside, da escola que frequenta e assim por diante. A criança pode permanecer no grupo ou sair dele. Pode sair e pode voltar. Pode ser convidada ou pode ser excluída. Quando ela está na sua pequena sociedade lúdica onde a brincadeira principal é, por exemplo, o futebol, ou, como elas costumam chamar, o jogo de bola, ela vai entrando aos poucos, observando os mais velhos e os mais habilidosos jogarem, aguardando oportunidades, submetendo-se ao que lhe reservam, experimentando, errando, acertando, atrevendo-se, recuando, levando as aprendizagens para casa, exercitando-se sozinha para depois voltar mais confiante para o grupo etc. Quando erra, não é castigada, pode tentar quantas vezes quiser, quando acerta é aplaudida, pode rir ou chorar com acertos e desacertos, pode receber críticas e comentários dos colegas, pode conversar sobre o jogo quando ele termina. Acima de tudo, ela quer participar do grupo. Podemos dizer que essa adaptação ao grupo é o jeito que as crianças desenvolvem para irem, aos poucos, tornando-se parecidas com o grupo; sem deixar de ser elas, tornam-se, também, a cara de sua pequena sociedade. Claro que várias crianças, em suas fantasias, aspiram ser, um dia, jogadoras de futebol. Mas não creio que seja isso que as mantenha no grupo. Elas possuem essas e muitas outras fantasias. O que elas mais aspiram é ser integrantes do grupo, pertencer a ele, fazer coisas dentro do grupo que as tornem aceitas, que as reforcem, que lhes confiram identidade, que lhes elevem a autoestima. Seu grupo é a coisa mais importante de suas vidas fora da família. E nada será mais importante que serem aceitas nele, que fazerem parte dele. É sua grande oportunidade de se sentirem bem, de terem a autoestima elevada, de serem reconhecidas. Talvez isso não ocorra na família ou na escola, mas na sua pequena sociedade lúdica elas podem ser reconhecidas e aceitas como são, mesmo não sabendo que, com o tempo, elas serão tão mais aceitas quanto mais parecidas com o grupo se tornarem. Se a brincadeira mais importante de um grupo for o jogo de bola, como era no meu caso, nada me fortalecia mais no grupo que aprender a jogar bola. E tudo eu fazia para aprender bem e ser aceito, ser reconhecido. Pensando no que ocorre hoje com a Internet, os grupos, ou pequenas sociedades lúdicas, continuam ensinando muito, e as crianças e jovens de tudo fazem para ser aceitos neles, mesmo que isso lhes custe dissabores e, em alguns casos, a própria vida.
Todas essas coisas são elementos para inspirar uma Pedagogia da Rua. Reparem que há um método nas aprendizagens obtidas na Rua. Não falo aqui do método científico, ou do método usado por adultos para realizar certos trabalhos e apresentações. Falo de método como maneira de fazer as coisas, como uso de técnicas, de gestos para realizar as intenções. Não se aprende ao acaso. Há intenções, há caminhos melhores e piores, há imitações, repetições, exercitações isoladas, temores, audácias, exibicionismo, timidez, porém, ao modo de cada criança. Esse modo de ser de cada criança é o modo de ela ser no grupo, não um modo isolado, destituído de influências nas relações dentro do grupo. Portanto, o modo de ser de cada um é também o modo do grupo, o modo de ela ser no grupo. Sim, não podemos negar as crueldades, o bullying e outras aberrações que conduzem ao sofrimento e ao crime dentro dos grupos. A Rua não tem compromisso com algum tipo de moral. Eventualmente ela repete a moral que vem dos mais velhos, dos adultos, da família, mas não há na Rua um julgamento moral ao modo da família ou da escola. Na Rua há também castigos, repressões, mas as crianças resolvem isso ao seu modo, sem pressões externas. Na Pedagogia da Rua, por outro lado, não se repetirá a crueldade da Rua. Na Pedagogia da Rua perde-se o ambiente da Rua, mas pode-se criar, de outra maneira, a Pequena Sociedade Lúdica. Pode-se compreender que o ponto de vista da aprendizagem é o do aluno. Ele deve ser o protagonista. Os professores podem participar de outra maneira, mais indiretamente, mais sugerindo, mais propondo problemas, mais criando situações, mais fazendo rodas de conversa, mais levantando as opiniões dos alunos, mais ajudando, mais acolhendo, mais perguntando. Na pedagogia da Rua, assim como na educação da Rua, sempre estão em destaque alguns pontos que são fundamentais: o lúdico, o grupo e o interesse do aluno. Na Pedagogia da Rua deve-se trabalhar com uma educação moral de autonomia, levando os alunos a discutirem regras e a criarem as regras necessárias aos seus jogos.
Os exemplos aqui descritos, a maioria sobre futebol, são apenas ilustrações de uma educação inspiradora de pedagogias que, se aplicadas a outros ambientes educacionais, podem se mostrar muito mais eficazes que as pedagogias escolares, geralmente destituídas de sentido para os alunos. A educação processada na Rua pode ser inspiradora se ficarmos atentos ao modo como se dá essa educação e aos seus efeitos.
Não se trata, portanto, apenas de melhorar a maneira de ensinar futebol ou outro esporte. Quando abordo uma possível Pedagogia da Rua, penso em uma outra maneira de educar o ser humano, nas escolas ou em quaisquer outras instituições. Penso naqueles que já fizeram algo semelhante, como Paulo Freire, entre outros. Por ser brasileiro, o educador que sempre me aparece primeiro é Paulo Freire. O tempo passou, envelheci, e continuo nascendo a cada dia sempre que me empenho por alguma coisa. E as coisas pelas quais mais me empenho são aquelas que me fazem ser aceito nos meus grupos, nas sociedades que habito, das menores às maiores. Tenho a família, tenho os amigos, tenho o meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país e meu mundo.
A criatura humana, dada sua fragilidade anatômica, carece do grupo para tornar-se forte. Talvez mais que qualquer outra criatura, estar em grupo é sua chance de sobrevivência. Apesar da fragilidade anatômica, o sistema nervoso da criatura humana é excepcional e produtor de um instrumento extraordinário, que é a imaginação. Sua imaginação lhe permite compreender sua própria fragilidade e a necessidade de estar em grupo. Porém, isso dependerá de educação. Portanto, qualquer educação individualizante enfraquece a criatura humana. Quando livres, as crianças buscam formar grupos, e isso não se dá por acaso, é da natureza humana. Uma educação coerente com a criatura humana deveria entender que toda educação deve ser coletiva. O ser humano não precisa resolver seus problemas sozinho, ele pode resolvê-los coletivamente, sempre com ajuda. A escola, de maneira geral, pratica uma educação individualizante. Na educação da Rua ocorre, tanto educação coletiva quanto individualizante. Porém, no caso das crianças, elas buscam sempre formar grupos e aprender umas com as outras.