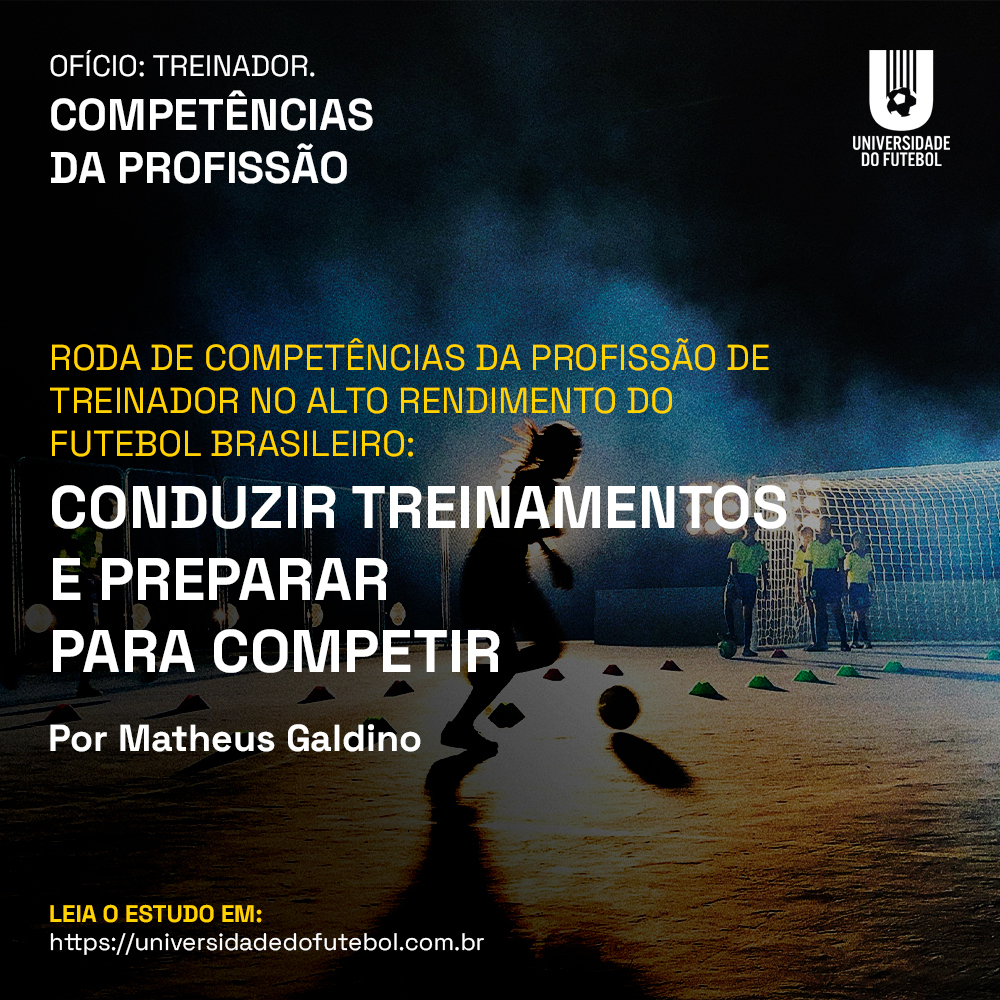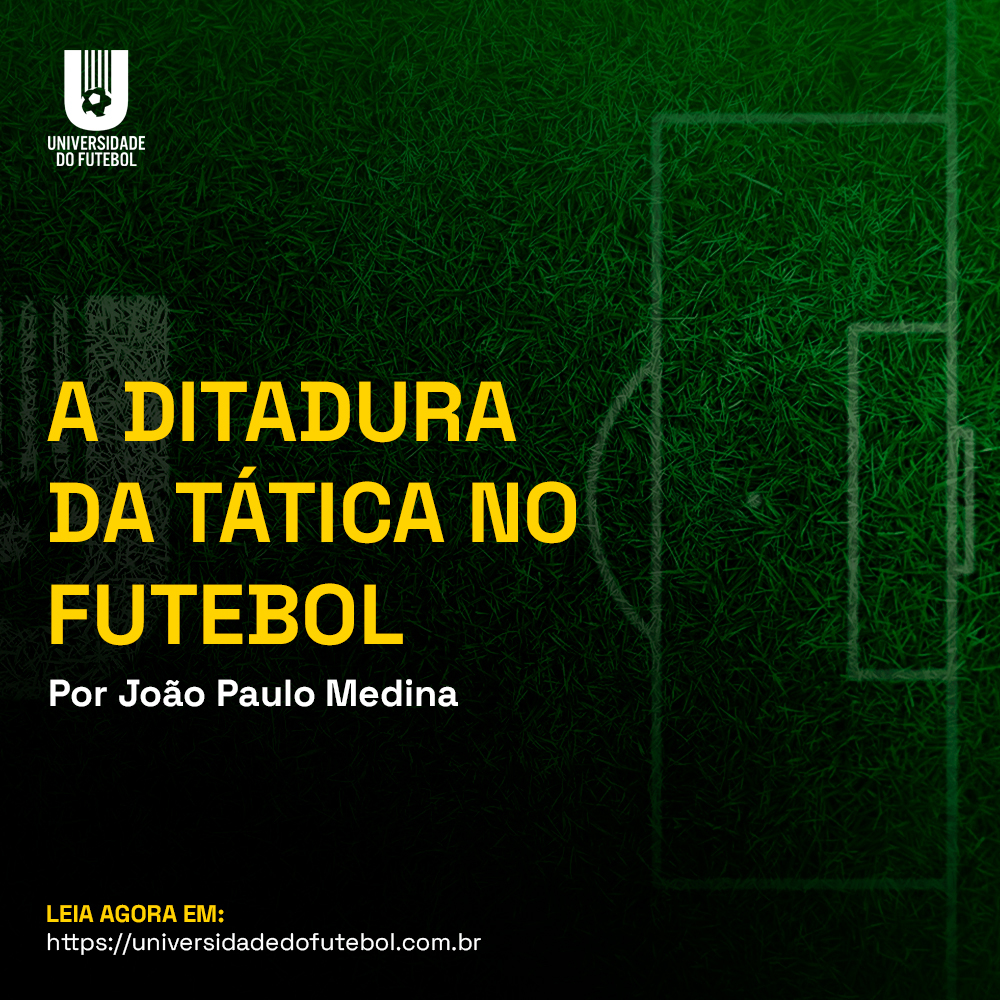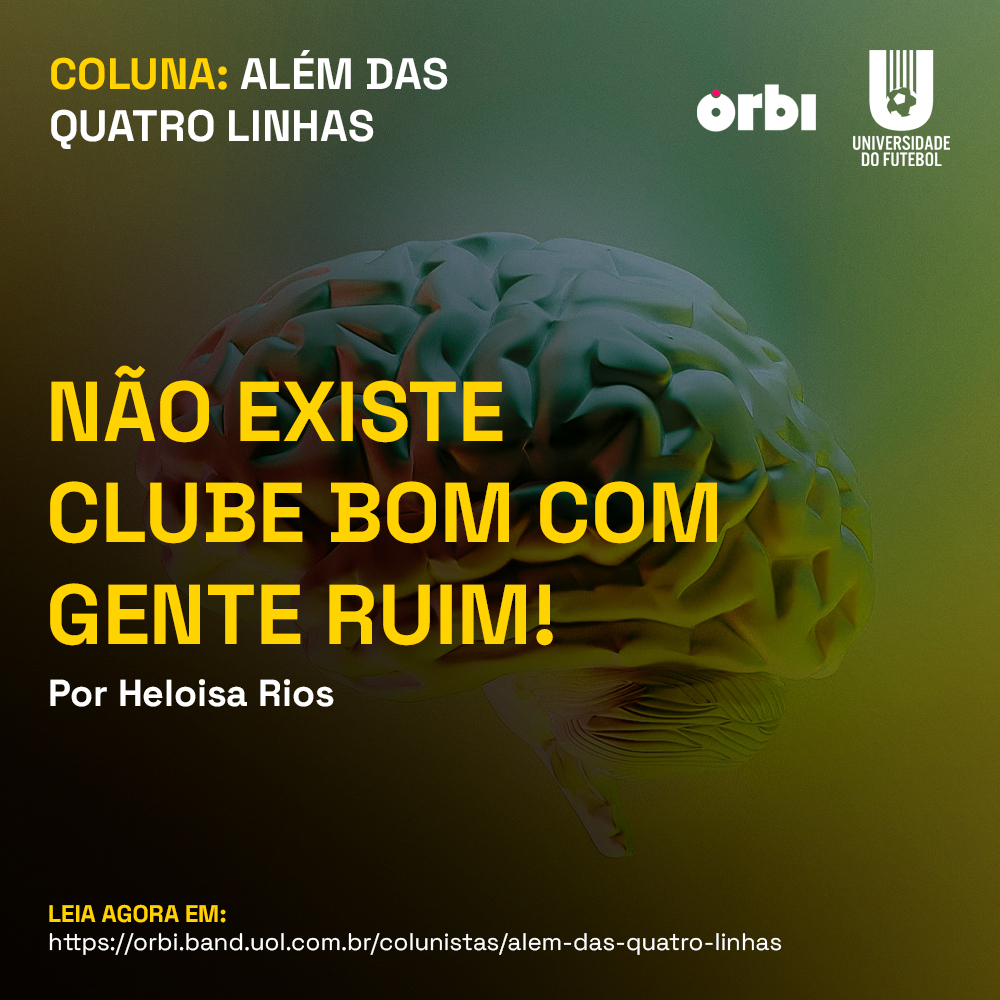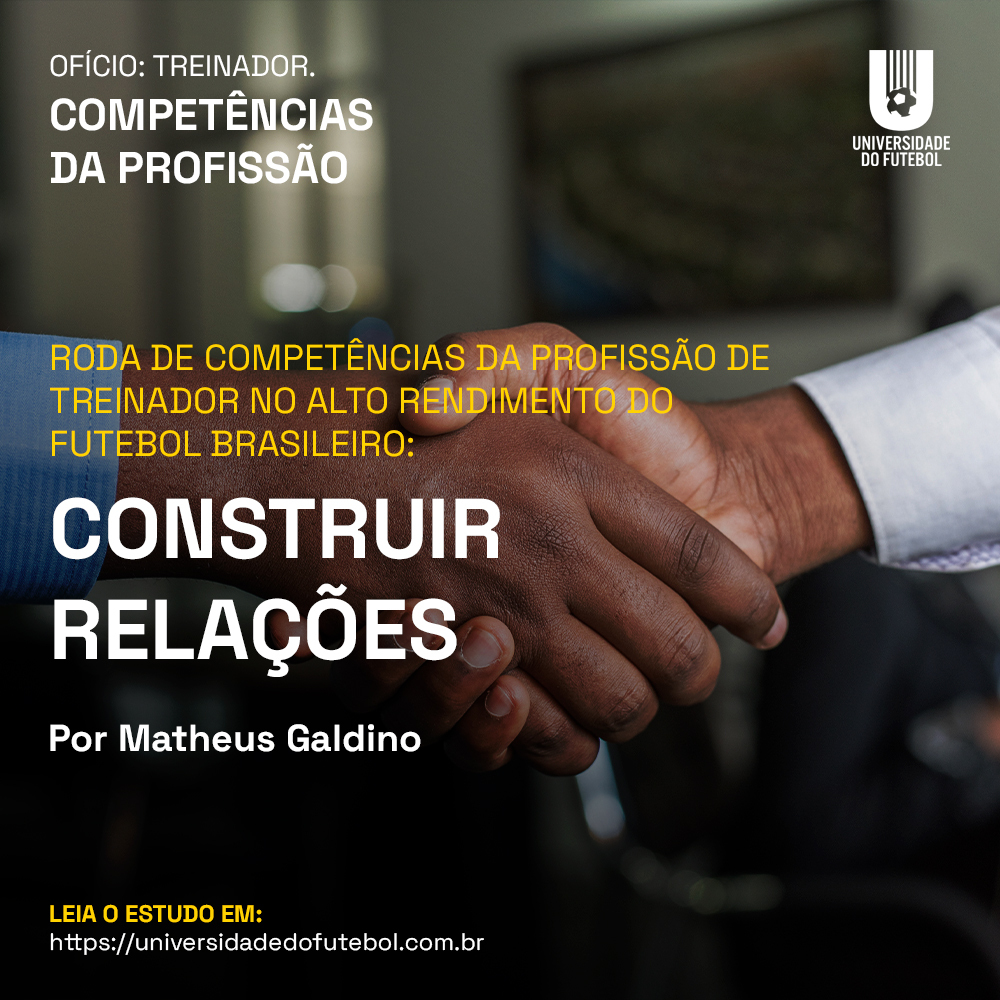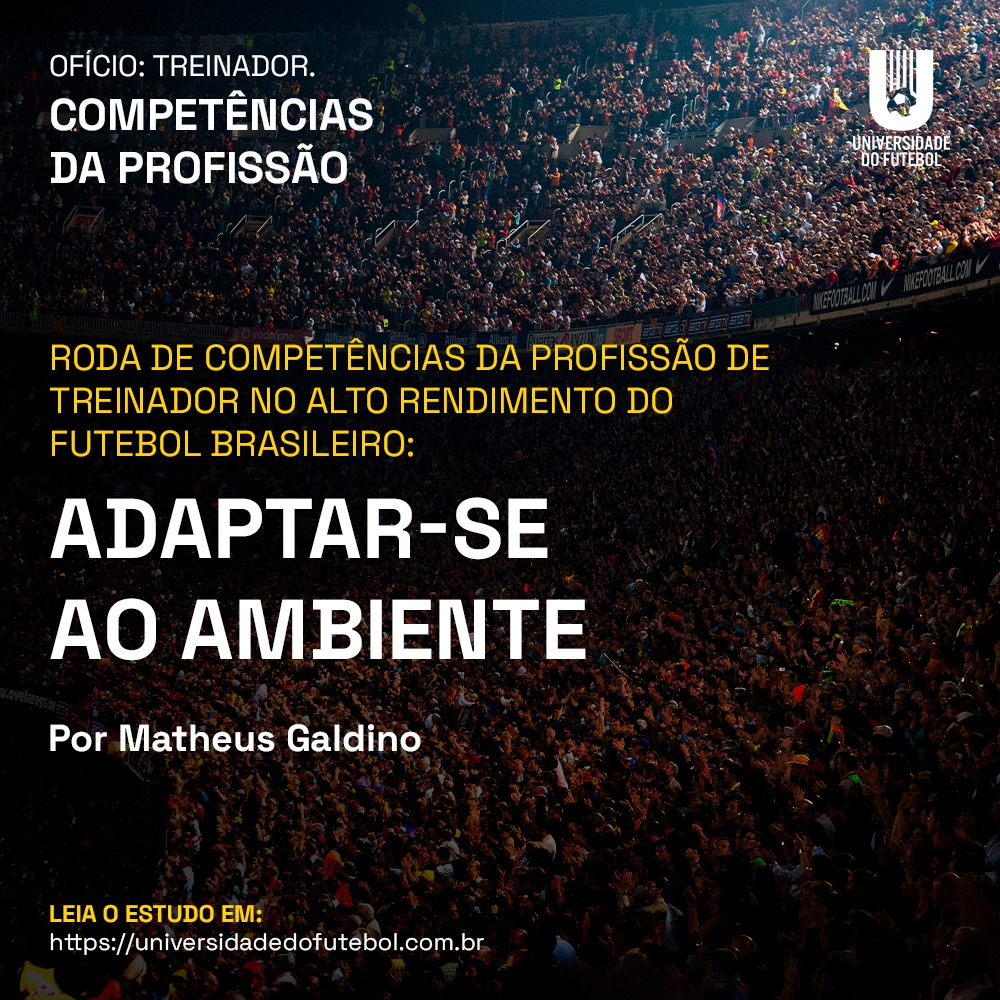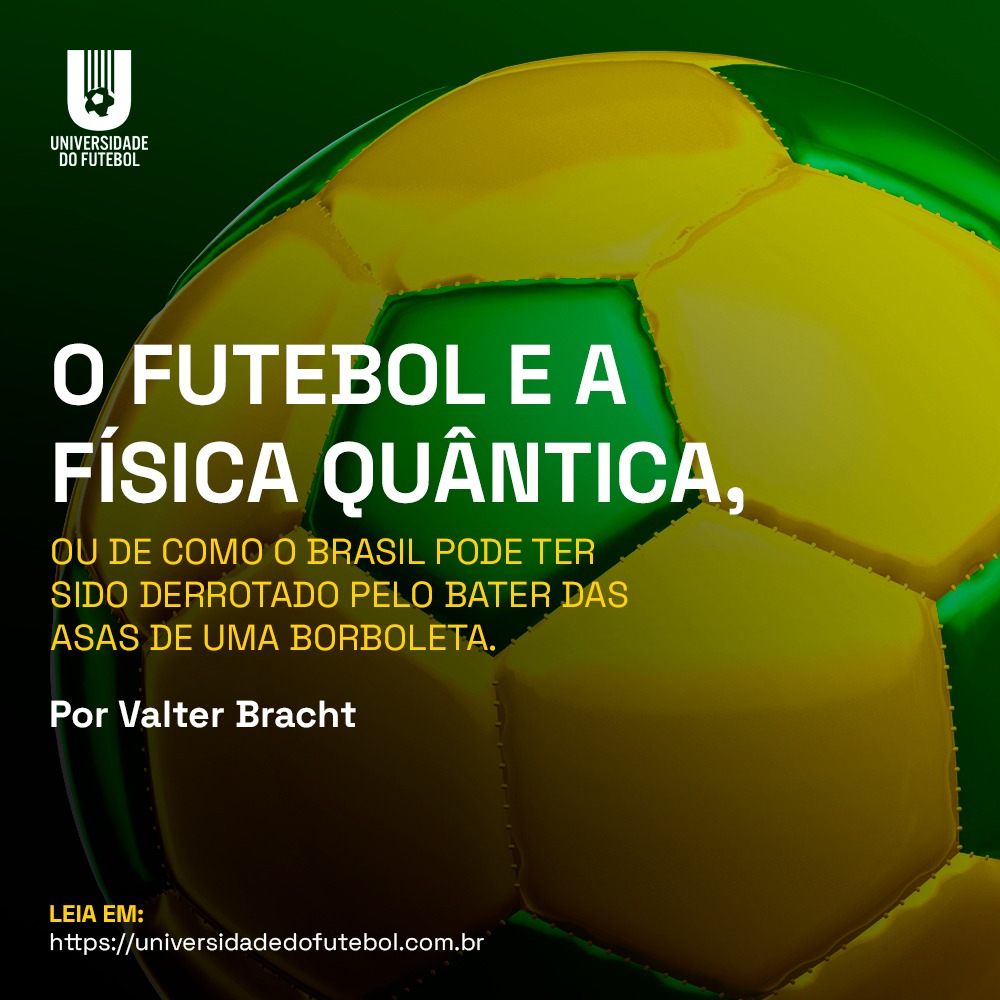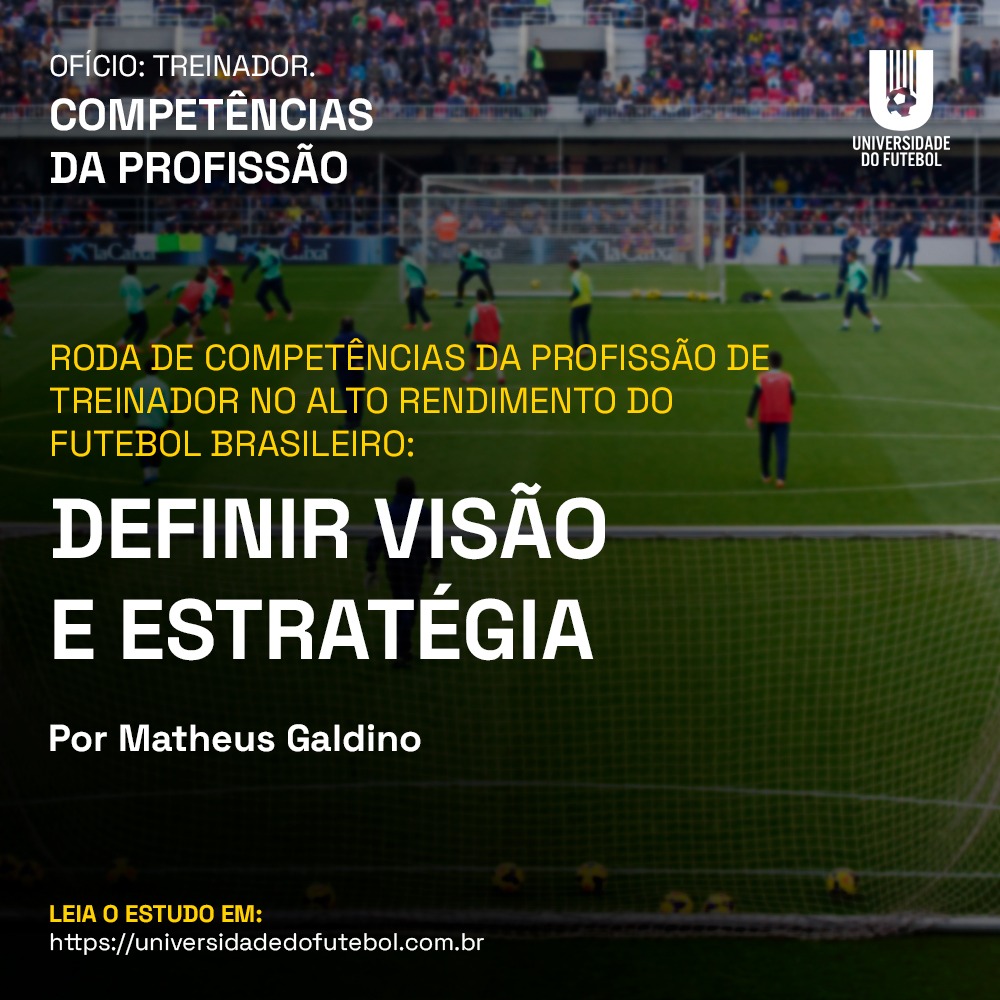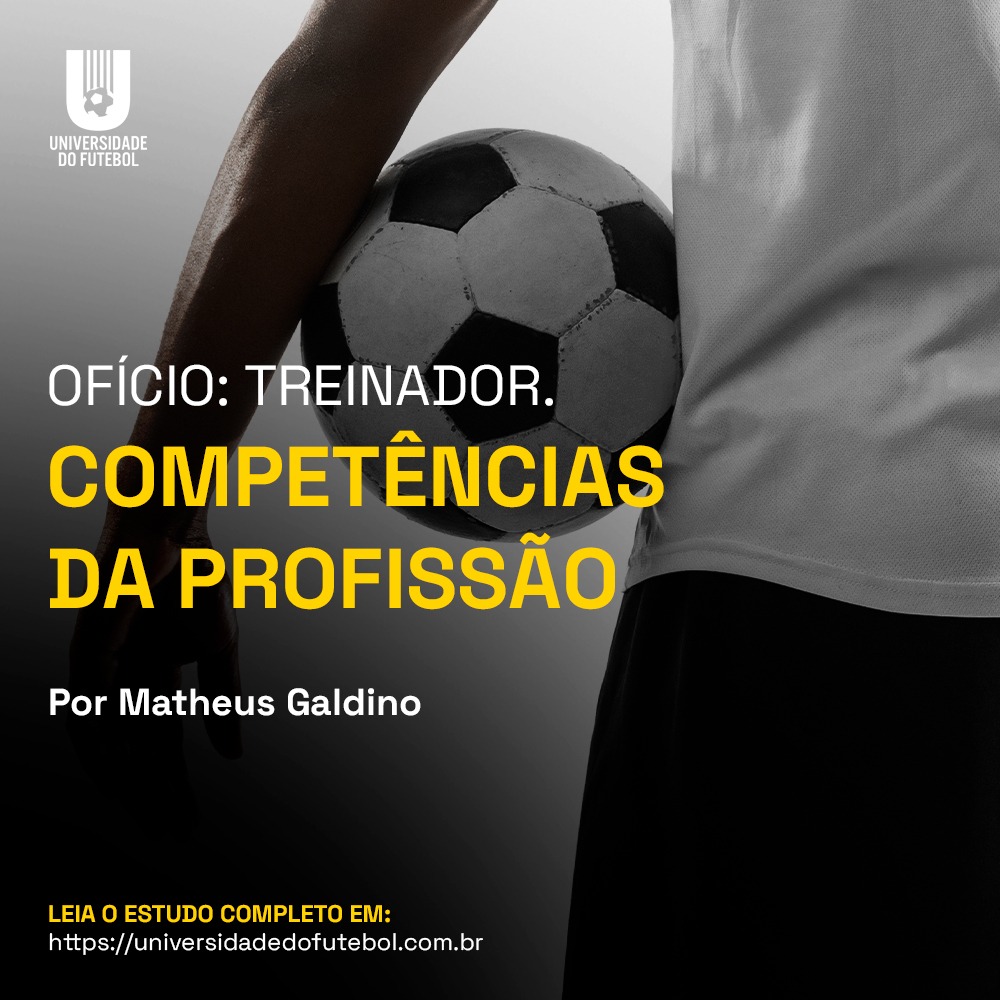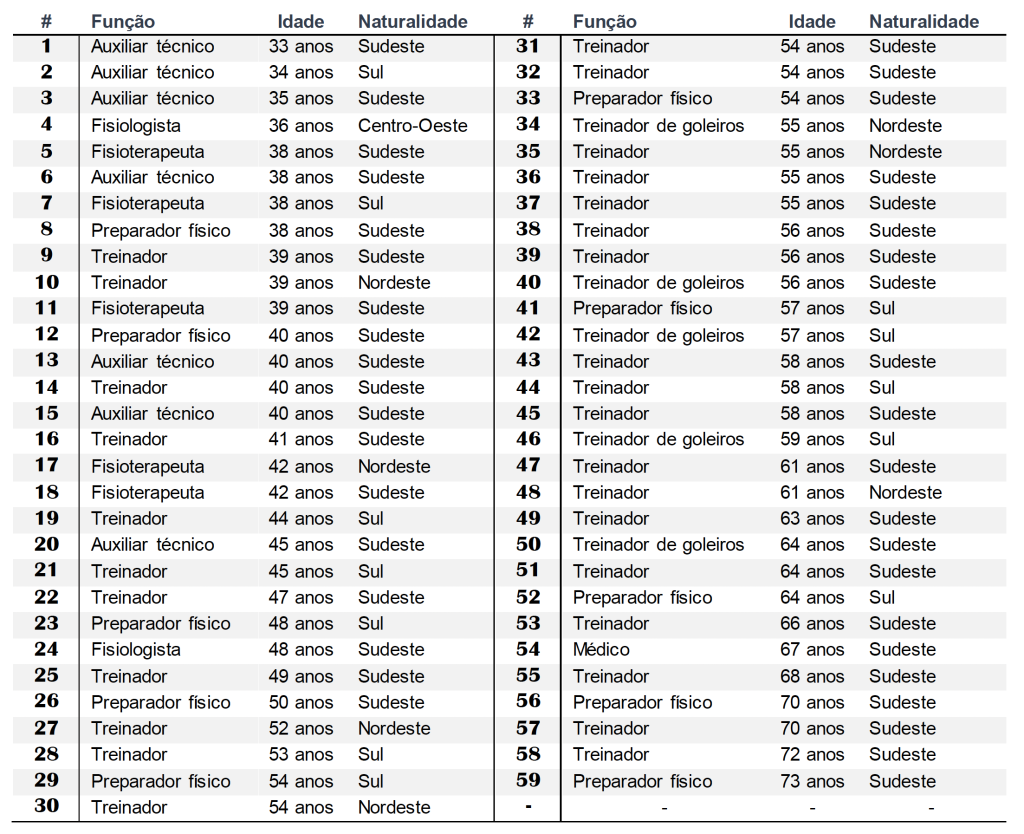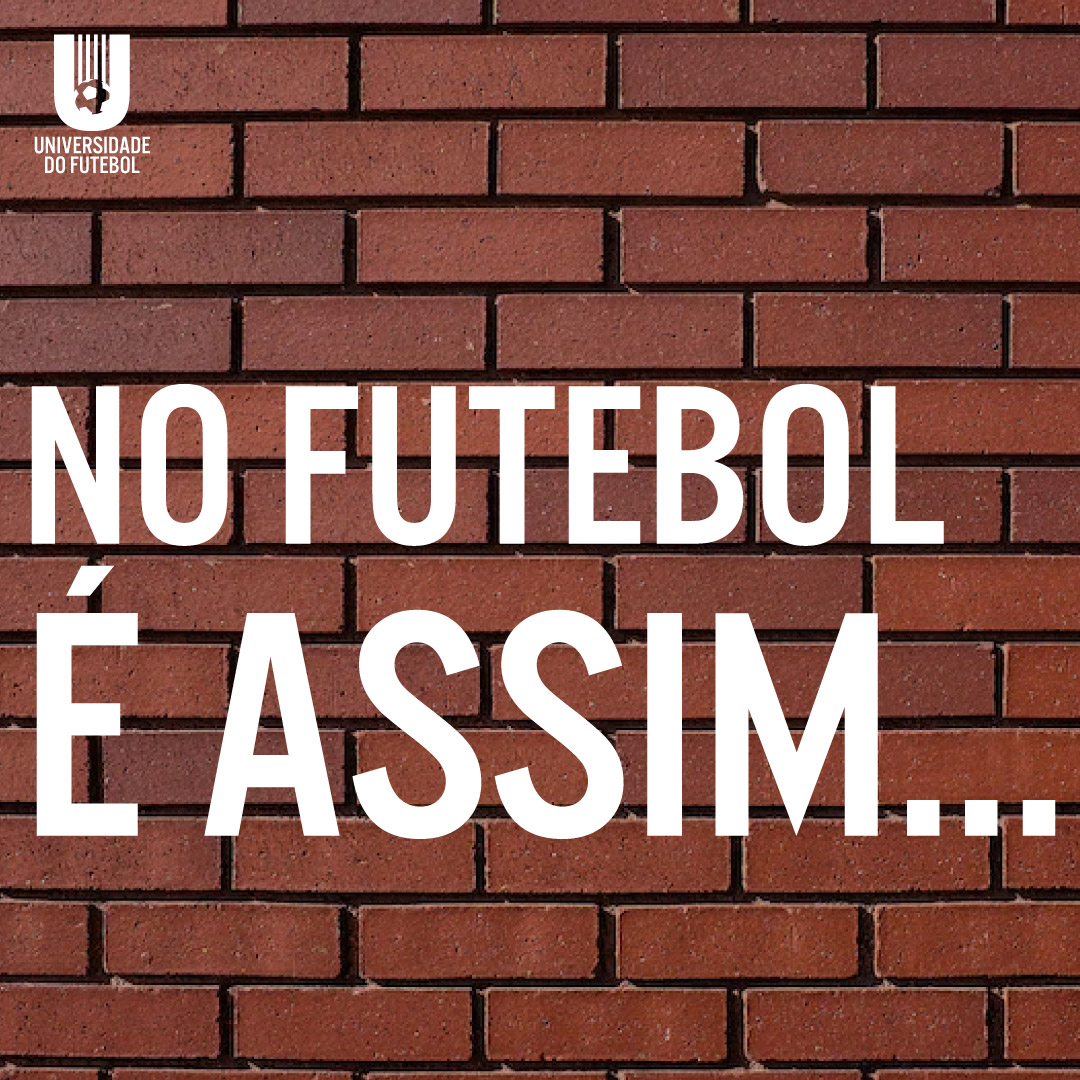Reflexões sobre as mudanças paradigmáticas no futebol brasileiro e mundial
“Tanto jogando, como assistindo, o povo brasileiro potencialmente ainda conserva a sua paixão pelo jogo bonito, criativo, alegre e eficiente, que fez do futebol brasileiro uma marca reconhecida mundialmente. Aprendemos a gostar deste “jogo com bola, jogado com os pés”, de forma natural e espontânea. Desde a época das peladas e do “futebol de rua” que essa cultura de jogo nos envolve. Se faz necessário um esforço coletivo para resgatá-la, preservá-la e retroalimentá-la, porém com novos ingredientes que o futebol e a sociedade contemporânea exigem.”
(João Paulo Medina)
O futebol, enquanto expressivo fenômeno sociocultural e esportivo de alcance mundial, vem sofrendo diversas influências e transformações, conforme seu percurso ao longo da história.
Não é nosso objetivo, neste ensaio, fazer uma análise histórica mais aprofundada sobre as origens e a evolução desta modalidade esportiva, mas, apenas, contextualizar algumas reflexões críticas sobre o atual estágio do futebol no Brasil e no mundo. Nesta perspectiva, vamos tomar como referência histórica o período entre a realização da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai, até os tempos atuais.
As Copas do Mundo, sendo repetidas de 4 em 4 anos (com apenas duas interrupções em 1942 e 1946 devido à Segunda Grande Guerra Mundial), costumam servir de termômetro – achemos adequado ou não – para se avaliar o estágio de desenvolvimento do futebol globalmente.
Neste período de quase 100 anos (1930-2023), pudemos constatar diferentes estágios de desenvolvimento no jogo de futebol. Mas até a década de 1950, o que se praticava era um jogo, onde a habilidade técnica individual dos jogadores era o fator decisivo, fazendo toda a diferença. Cabia ao treinador “enxergar” o potencial técnico de seus comandados e oferecer certa organização em campo aos jogadores para que pudessem expressar sua arte e obter bons resultados.
Em seguida, em um período que podemos situar entre as décadas de 1960/70, com a evolução das ciências do esporte, iniciou-se a etapa de ênfase à preparação física, onde só as qualidades técnicas já não eram suficientes para as demandas do alto rendimento. Lembro-me, nesta época, aqui no Brasil, das críticas que sofriam os preparadores físicos (que começavam a surgir nos clubes mais estruturados), por parte de muitos que personificavam neles o retrocesso do futebol-arte, como “marca registrada” do futebol brasileiro. Com o passar do tempo, foi se conseguindo certo equilíbrio entre as exigências físico-fisiológicas dos jogadores e as suas habilidades técnicas necessárias à prática do “bom jogo”.
Até que veio uma “terceira onda” no processo de evolução do futebol, cuja ênfase é dada à preparação físico-técnico-tática, na qual o componente tático começa a ter muito protagonismo.
É claro, que não se pode distinguir, de forma mecânica, linear ou cartesiana, estas 3 grandes etapas. Na verdade, estes processos de mudança, ocorrem das mais diversas formas e, muitas vezes, sutilmente, com avanços e retrocessos.
O fato é que mais acentuadamente nestas últimas décadas, o jogo de futebol de alto rendimento, mudou bastante em vários sentidos. Mas vamos nos ater aqui, prioritariamente, à evolução de sua dimensão tática.
Sem desconsiderar treinadores mais antigos, alguns excepcionais e inovadores, como Bill Shankly, Bob Paisley, Helenio Herrera, Ernst Happel, Rinus Michels, Zagalo, Johan Cruyff,entre outros, queremos destacar Arrigo Sacchi que no final dos anos 1980 e início da década de 1990, revolucionou o futebol mundial, inaugurando definitivamente uma era de predominância dos aspectos táticos no jogo de futebol que podemos afirmar que dura até nossos dias. Sacchi foi quem, com suas inovações táticas, deu grande ênfase ao jogo coletivo, colocando em outro patamar a necessidade de se ter um espírito de trabalho em equipe em seu mais alto grau de exigência até aquele momento.
Simultaneamente a ele, e depois dele, se destacaram outros grandes treinadores, desde Carlos A. Parreira, José Mourinho, Telê Santana, Luiz F. Scolari, Alex Ferguson, Van Gaal, Carlos Ancelotti, Tite, Luciano Spalletti, Lionel Scaloni, Abel Ferreira, entre muitos outros, até chegarmos nos icônicos Jürgen Klopp e Pep Guardiola.
Klopp e Guardiola se notabilizaram mais recentemente por suas inovações táticas (e não só), com resultados expressivos que, agora, segundo alguns analistas, começam a dar sinais que podem representar o encerramento de uma era, iniciada por Arrigo Sacchi.
A simplista e tradicional nomenclatura dos “sistemas táticos”, como o 4-2-4, o 4-3-3, o 4-2-3-1, o 4-1-4-1, o 3-5-2 etc., como interpretação das dinâmicas que ocorrem durante um jogo de futebol, parecem estar com seus dias contados. Muitos treinadores, inclusive, já não os consideram como referência aos seus modelos de jogo. Mas não só esta nomenclatura está sendo questionada cada vez mais, como também os próprios sistemas táticos atuais em si mesmos, começam a mostrar suas fragilidades, independentemente dos números que os possam classificar ou identificar.
Neste sentido, um interessantíssimo artigo, publicado recentemente por Rory Smith, respeitado jornalista esportivo inglês e correspondente do influente jornal norte-americano, The New York Times, faz críticas aos “sistemas táticos” atuais, procurando dar luz a esta inflexão que pode desembocar em uma ruptura ou mudança de paradigma no jeito de jogar futebol, mundo afora.
Rory afirma “A história do futebol é um processo de estímulo e resposta, de ação e reação. Uma (determinada) inovação domina por um tempo – o processo acontece cada vez mais rapidamente – antes que a concorrência a decodifique e a neutralize ou a adote.”
E continua o autor do instigante texto: “E há, agora, os primeiros vislumbres do que se pode seguir no horizonte (do futebol). Em toda a Europa, as ‘equipes de sistema’ estão começando a vacilar (geralmente, com muitos altos e baixos). O caso mais evidente é o Liverpool, de Jürgen Klopp, lutando não apenas com um cansaço físico e mental, mas também (com questões) de filosofia. Seus rivais e colegas, agora, estão inoculados para seus perigos. (…) Até o Manchester City (de Pep Guardiola, com o seu badalado “Jogo de Posição”), onde o sofrimento é sempre relativo, parece menos soberano do que antes.” Em relação ao Real Madrid, clube que tem conseguido manter bons desempenhos e resultados nos últimos tempos, ele justifica: “O Real Madrid, é claro, sempre teve esta abordagem, optando por controlar momentos específicos dos jogos, em vez do jogo em si. Mas o fez com uma vantagem significativa de possuir muitos dos melhores jogadores do mundo.”
Após essas considerações preliminares, Rory Smith afirma algo que queremos aqui destacar, por concordar amplamente com o que diz: “O futuro, ao contrário, parece pertencer às equipes e treinadores que estão dispostos a ser um pouco mais flexíveis e veem seu papel como uma plataforma na qual seus jogadores podem improvisar.”
Na sequência, para sustentar seus argumentos, ele cita os trabalhos de Luciano Spalletti, do Napoli e de Fernando Diniz, do Fluminense, como novidades e bons exemplos de inovação no futebol. E é este o ponto que queremos destacar nestas reflexões.
Não conheço muito o trabalho de Spalletti, a não ser a sua crença de que os jogadores “não podem ser tratados como marionetes, encorajando-os a pensar e interpretar o jogo por si mesmos.” Mas acompanho com muita atenção, há tempos – desde seu período de Audax-SP – os movimentos e a evolução do treinador Fernando Diniz.
Diniz, sempre questionou muito os posicionamentos tradicionais, engessados pelos sistemas táticos de jogo, quaisquer que fossem eles (mesmo os mais atuais e vencedores). Se insurge também àqueles que priorizam a tática descontextualizada, em detrimento dos relacionamentos humanos mais profundos. Dificilmente veremos o treinador do Fluminense travando um debate sobre tática ou modelo de jogo, por exemplo, sem antes contextualizar suas reflexões às situações concretas (de vida, inclusive) de seus jogadores. Para ele, uma sociedade que exclui injustamente, que só valoriza quem vence e que simplesmente destrói jogadores (com potencial), mas que – por circunstâncias muitas vezes desconhecidas – não conseguem ser bem-sucedidos, é uma sociedade doente e que precisa ser superada.
Fernando Diniz, embora esteja atento à evolução científica no esporte, que traz inovações às metodologias de preparação dos futebolistas, não se deixa levar facilmente pelos modismos que, muitas vezes, tomam conta do ecossistema do futebol, de forma acrítica, criando-se verdadeiras “camisas de força” ou “ditaduras”, venham eles de onde vierem; das estatísticas, da fisiologia, da tática, ou de qualquer outra área específica do conhecimento. Não se rende, enfim, às interpretações puramente especialistas (muitas vezes, vistas de forma estática, mecânica ou linear) sobre um jogo que entende ser complexo, dinâmico, caótico e imprevisível, em sua essência. Talvez, por isso, que seu “jogo aposicional”, que tanta controvérsia provoca, seja a marca indelével de seu estilo.
É fato que as equipes (todas) vão ganhar e perder no futebol de diferentes formas e circunstâncias, sejam quais forem as suas propostas, mas é fundamental que percebamos como os sistemas (posicionais ou “aposicionais”) podem ter influência no desenvolvimento dos jogadores e do futebol brasileiro e mundial.
E para finalizar com uma síntese do pensamento de Fernando Diniz, ele acredita firmemente que tudo aquilo que o jogador faz em campo é muito menos fruto de suas habilidades físico-técnicas e táticas, em si mesmas, e muito mais fruto de sua predisposição para seguir seus propósitos, ter coragem, desenvolver seu espírito de solidariedade, sua inteligência (individual e coletiva), seguindo um roteiro pré-determinado pelo treinador, porém com suficiente liberdade de movimentos e autonomia para poder improvisar e criar, mantendo aceso o genuíno prazer e alegria de jogar futebol. E não seria isso, o resgate da essência do futebol brasileiro, em tempos contemporâneos?
João Paulo S. Medina
Fundador da Universidade do Futebol