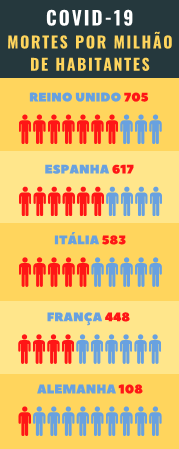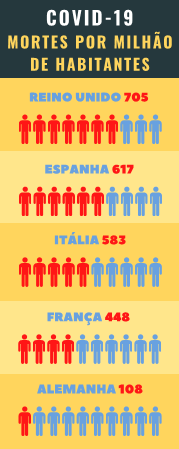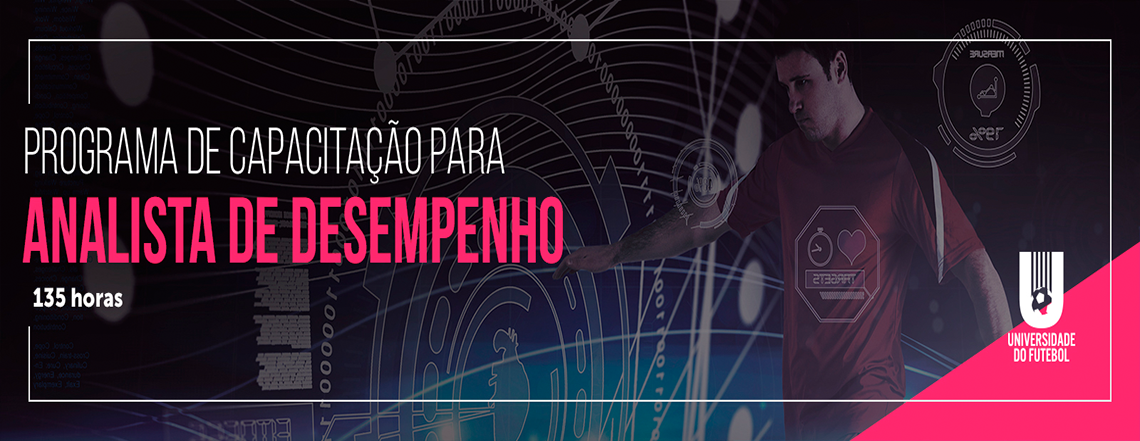Na quarta-feira da semana passada (02/09/2020) o futebol feminino brasileiro fez história: a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que pela primeira vez, duas mulheres serão as novas coordenadoras no comando dos principais assuntos relacionados ao futebol feminino no país.
Duda Luizelli, diretora de futebol feminino do Internacional, passará a ficar à frente da Coordenação da Seleção Brasileira Feminina, enquanto Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção brasileira e responsável pela modalidade na FBF (Federação Paulista de Futebol), assumirá o cargo de coordenadora de competições da modalidade do futebol feminino que atualmente são quatro: o Brasileiro Feminino A-1, o Brasileiro Feminino A-2, o Feminino Sub-18 e o Feminino Sub-16. Com vastos currículos e por terem provado muita competência, o anúncio foi feito pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, que classificou a nomeação de ambas como “memorável”.
Em suas próprias palavras, Caboclo reiterou a importância desse passo para a modalidade no Brasil: “A partir de hoje, o futebol feminino do Brasil estará nas mãos de quem sempre trabalhou com a bola dentro e fora do campo. Pessoas que conquistaram seu espaço por terem feito tudo que podiam enquanto jogaram e trabalharam para estarem aqui como dirigentes. Hoje, as mulheres ganharam seu espaço pela competência que tem”.
Além das nomeações, a CBF também fez história ao anunciar que as atletas da seleção feminina brasileira de futebol passarão a receber os mesmos valores pagos aos homens em premiações. Segundo Rogério, a definição já havia sido determinada em março deste ano, resultado de um esforço conjunto na batalha pelo reconhecimento de igualdade salarial entre as seleções feminina e masculina. Tanto os valores a serem recebidos durante as convocações diárias, como também os provenientes de conquistas ou etapas alcançadas em Olimpíadas passarão a serem os mesmos.
A notícia teve grande destaque em jornais internacionais, exaltando a conquista que as nossas jogadoras conseguiram após tantos anos de luta e preconceito. Para efeitos comparativos, foi realizado um levantamento em 2017 que escancarou a desigualdade existente até então: enquanto os homens ganhavam R$ 500,00 por dia da CBF durante o período de treinos, as mulheres recebiam apenas metade desse valor. Para jogos fora do país, a diferença ultrapassava mil reais.
Apesar da importância dessa conquista, a batalha ainda não está ganha. Por exemplo, não obstante a determinação que as premiações a serem pagas pelo desempenho das seleções feminina e masculina nos Jogos Olímpicos de 2021 serão equivalentes, na Copa do Mundo de 2022 a proporção paga será a mesma, mas o total pago, não. Isso ocorre porque a Fifa ainda destina valores muito maiores aos times masculinos.
De qualquer maneira, o cenário diante das nossas atletas soa cada dia mais animador. Na mesma ocasião desses anúncios, a técnica da seleção brasileira Pia Sundhage fez a primeira convocação para a equipe principal feminina após o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para julho de 2021, por causa da pandemia de covid-19. A convocação chamou atenção por conter apenas jogadoras que atuam no Brasil, para evitar viagens internacionais em meio à pandemia. A convocação é para participar apenas de um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, de 14 a 22 de setembro, semana em que o Campeonato Brasileiro será pausado.
De fato, essas conquistas foram muito celebradas e bem-vindas na comunidade desportiva nacional. Esse avanço só foi possível após muita luta, força de vontade e coragem para enfrentar tantos desafios até hoje.
O caminho ainda é longo: os pagamentos ainda não são igualitários e a busca pela mesma visibilidade que a seleção masculina possui ainda é um objetivo a ser perseguido. Resta a conscientização e o resgate em massa do espírito de orgulho que sentimos por nossas atletas, que tanto tiveram destaque na última Copa do Mundo.
É essencial nos atentarmos para a força que o futebol feminino vem demonstrando – e que tem muito mais a demonstrar. É cristalino o potencial a ser explorado na prática, tanto em termos de descoberta de novos talentos e a valorização de atletas excepcionais, como de resultados financeiros práticos em patrocínios, marketing, comercialização de produtos oficiais etc.
E tudo isso é apenas o começo!