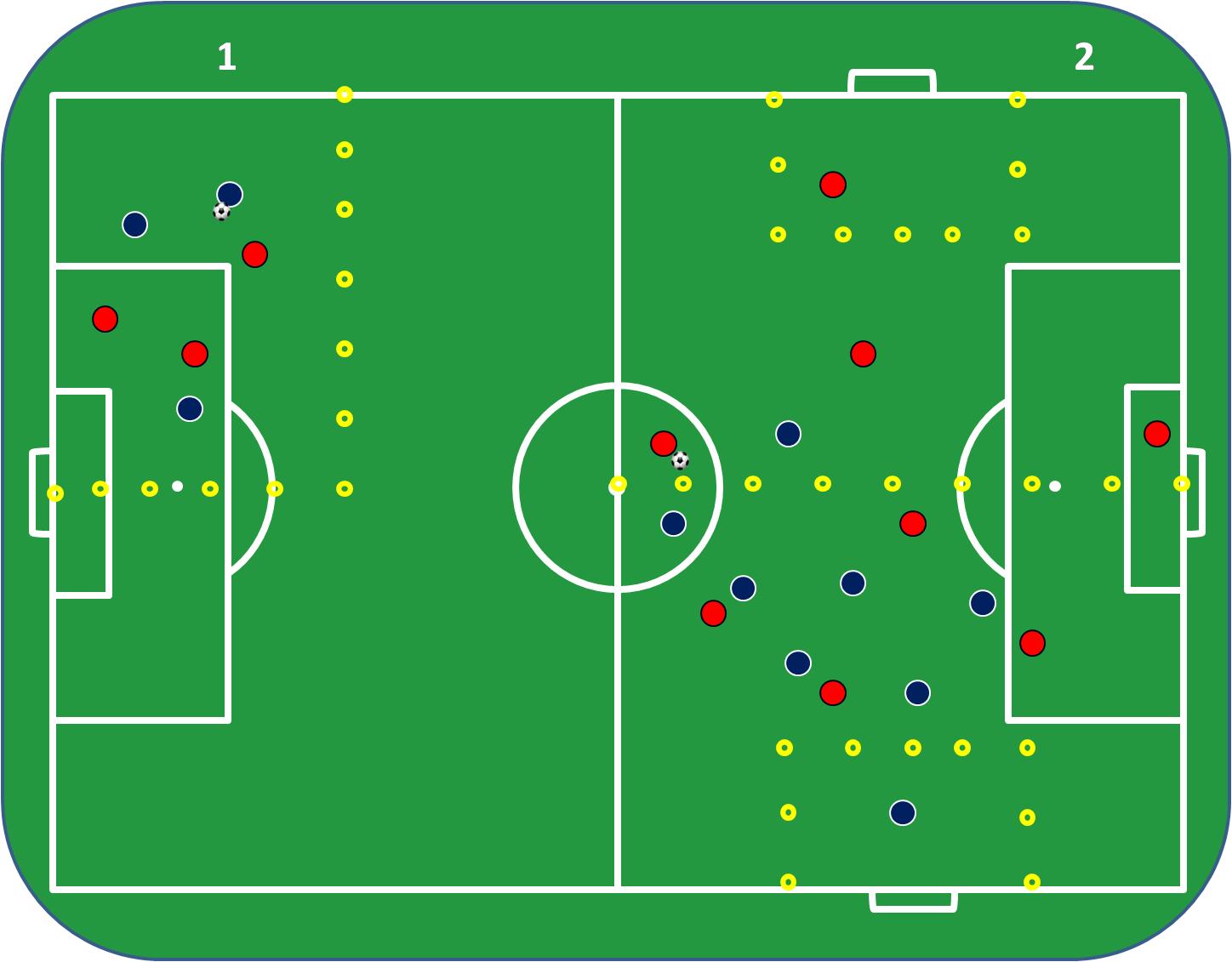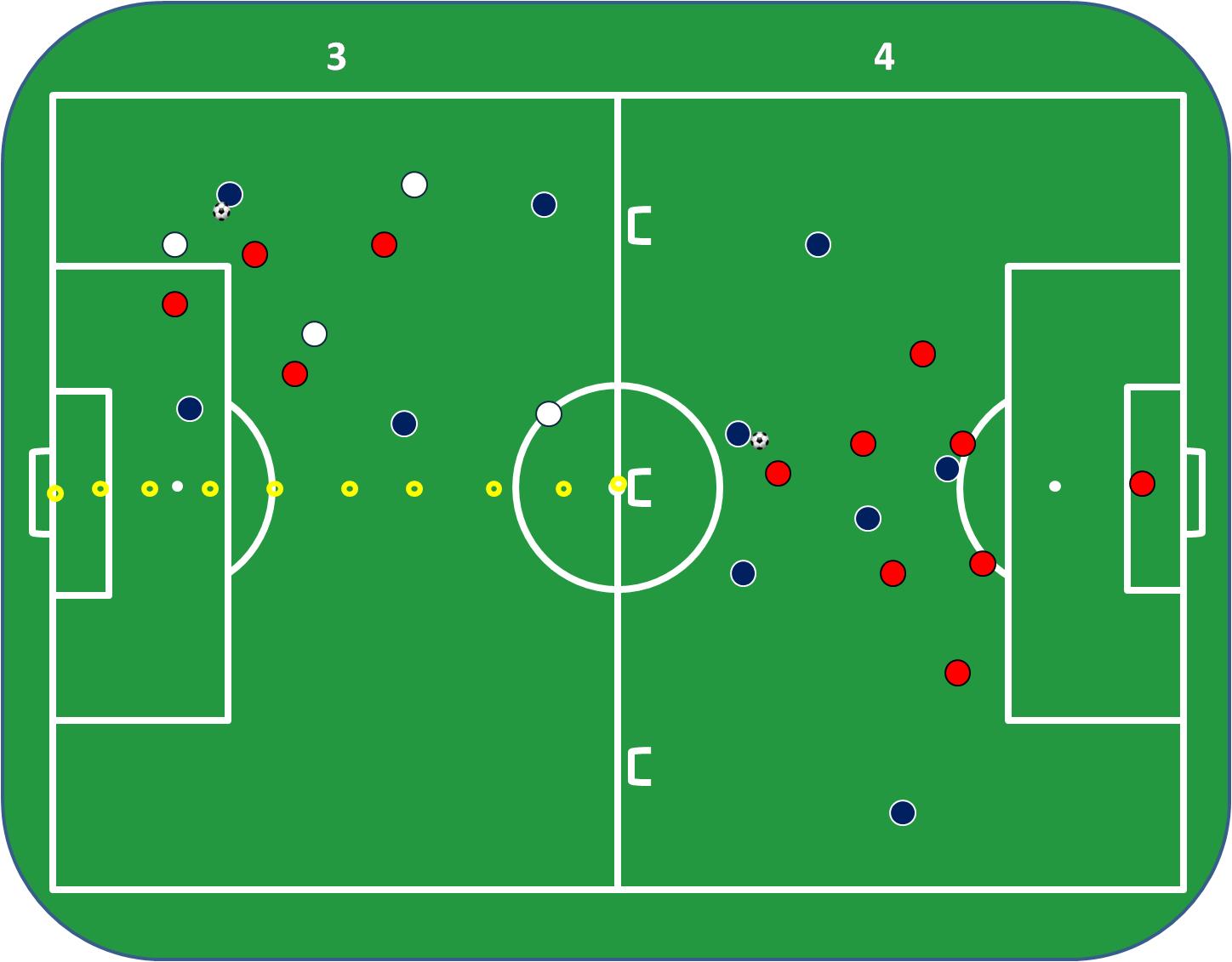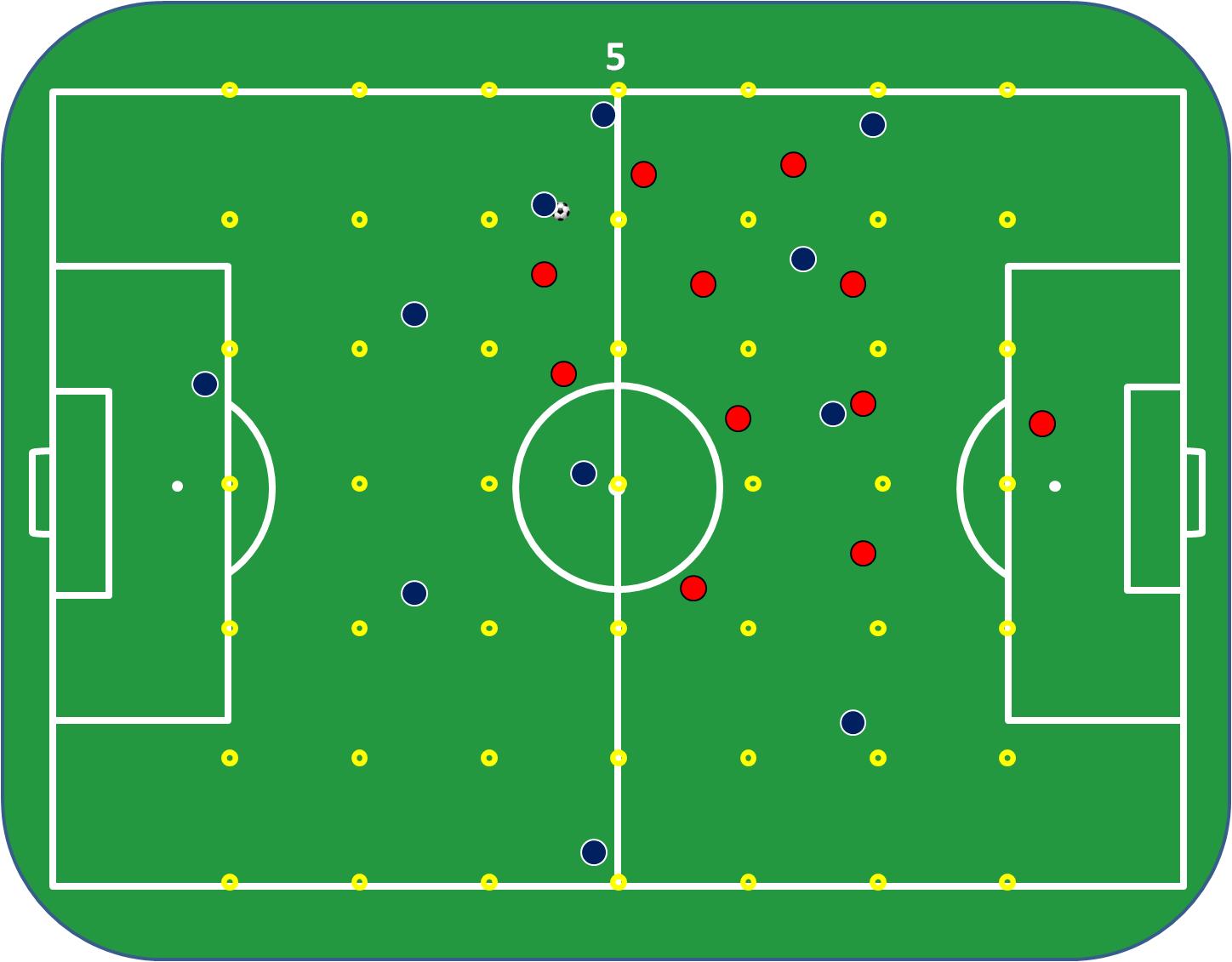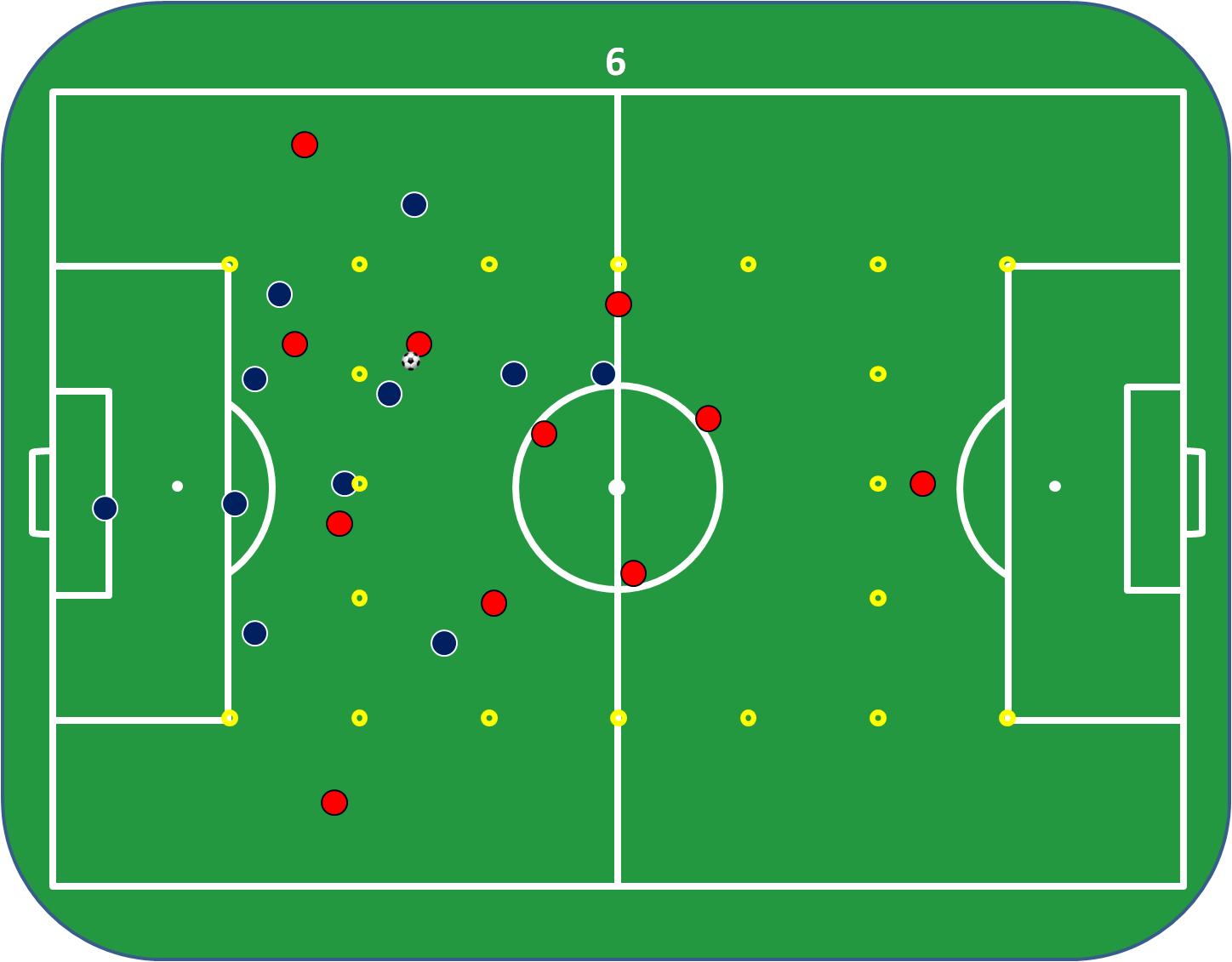No livro dos japoneses Takeuchi e Nonaka, Gestão do Conhecimento*, existe uma abordagem inicial que trata da “espiral do conhecimento”, detalhando de forma aprofundada as correlações dos conhecimentos tácito e explícito, que passam a ter um papel fundamental e dizem respeito a “abraçar os opostos” ou olhar de forma mais clara para a complexidade nas organizações. De acordo com os autores, as empresas fracassam por se curvarem a rotinas velhas criadas por sucessos passados.
Em outras palavras, podemos traduzir a assertiva para a primordial necessidade de aprendizado contínuo dentro das organizações. Na teoria parece óbvio, mas na prática isso dificilmente ocorre.
Por definição, conhecimento tácito tem relação com o conhecimento que não está na literatura e sim na cabeça e atitude das pessoas dentro de uma organização, incorporado ao longo da história do indivíduo. São difíceis de teorizar e de transmitir para terceiros – nas palavras de João Grilo, do filme “O Auto da Compadecida”, é algo como “não sei, só sei que foi assim…”.
Por explícito se compreende o conhecimento que pode ser teorizado e transmitido de pessoa para pessoa. É, dentre outras coisas e de forma bem sucinta, as informações que recebemos nos bancos escolares.
Nas organizações do futebol lidamos pessimamente com ambos, motivo pelo qual os clubes tendem sistematicamente a repetir erros do passado, com baixa capacidade de inovação. Takeuchi e Nonaka sugerem quatro padrões básicos para se criar conhecimento nas organizações, os quais iremos interpretar para aquilo que poderia ocorrer no contexto do futebol:
1. De tácito para tácito.
Compartilhar o conhecimento tácito de um indivíduo para outro. Seria como um atleta mais experiente a transmitir informações (e “dicas”) para os jogadores das categorias de base de como proceder diante de adversidades ou com relação ao árbitro do jogo. Neste campo, não há geração de novos conhecimentos, mas sim de assimilação e prática para posterior execução – quase que em um método experimental, de tentativa e erro.
2. De explícito para explícito.
Acontece na formalização de relatórios internos, como o de um Conselho Fiscal do clube. Dele não se cria nada, apenas se retrata o status da organização centrado em um único material.
3. De tácito para explícito.
É a conversão do conhecimento prático em um processo científico. Como um auxiliar técnico perceber, a partir de conversa com ex-jogadores, sobre a formação tática de algumas equipes e a dificuldade que encontravam para atacar alguns sistemas defensivos e desenvolver, a partir daí, um software que compila tais informações e possa ser transmitido de forma ordenada e clara para outros atletas na fase de treinamento.
4. De explícito para tácito.
Pode ser incorporado a partir da ideia proposta pelo Prof. Medina de implantação de Universidades Corporativas dentro dos clubes, a exemplo do que acontece em alguns setores dentro da Universidade do Futebol. A medida seria capaz de internalizar informações por parte dos colaboradores, que passariam a utilizar na prática este conhecimento, tornando-o tácito.
As duas últimas interações são as responsáveis por gerar inovações na organização. Ao ampliar a rotatividade de pessoas dentro dos clubes, seja na figura de técnico, jogadores, membros da comissão técnica ou mesmo pessoas de suporte da área administrativa e marketing, estas convergências se tornam imensamente dificultosas, pois cada novo colaborador precisa reaprender processos e conceitos daquela organização, minando em alguma medida a tal “espiral do conhecimento” proposta pelos autores.
Trabalhar de forma ótima a questão da gestão do conhecimento em clubes de futebol parece um grande desafio, mas que pode ser a chave para o crescimento institucional dos mesmos. Se tomarmos exemplos de sucesso recente no futebol brasileiro e mundial, saberemos enquadrar alguns destes ensinamentos da cultura japonesa para tais realidades.
* NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookman.
Para interagir com o autor: geraldo@universidadedofutebol.com.br