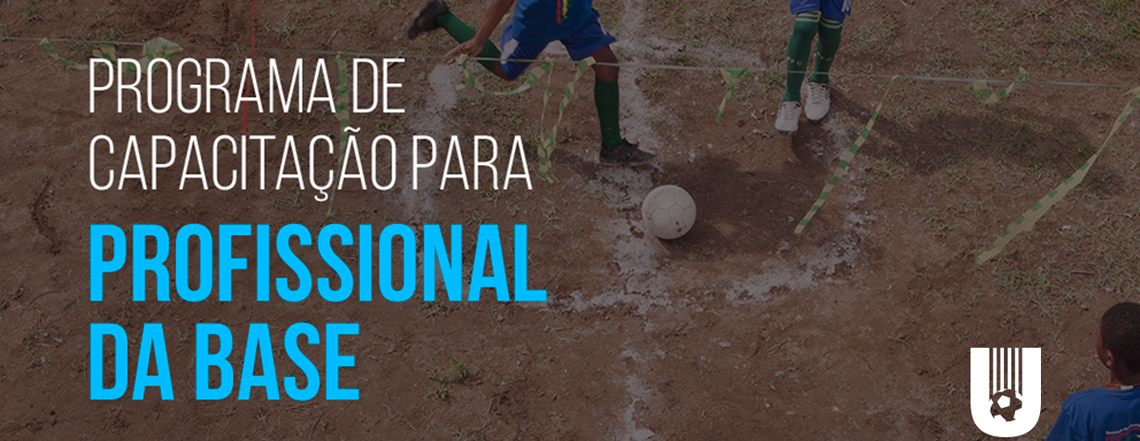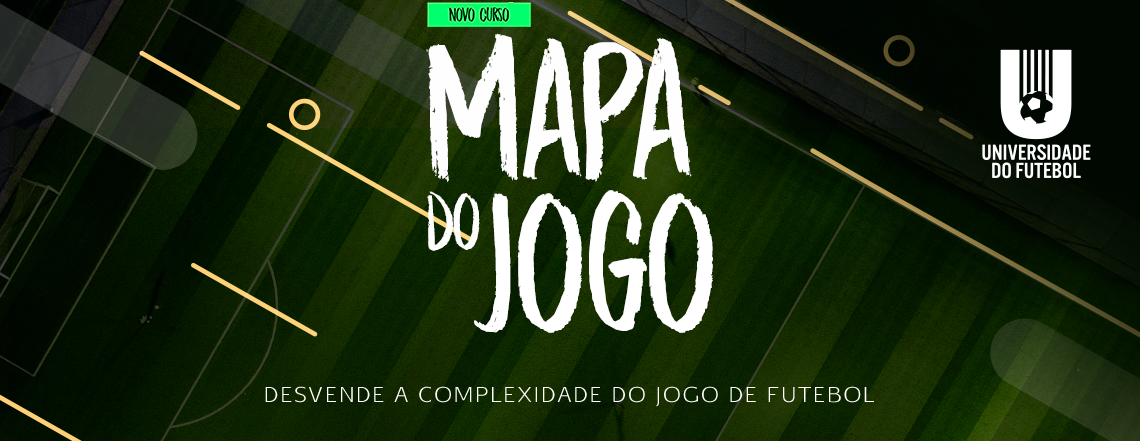Sem treinador desde a saída de Levir Culpi, o Atlético-MG esperou o término do Campeonato Cearense para apresentar uma proposta a Rogério Ceni, que no último domingo (21) ergueu a taça regional comandando o Fortaleza. Se ele aceitar a proposta, será o quarto técnico a deixar uma equipe da elite nacional após os Estaduais, na semana que antecede o início do Brasileirão (Alberto Valentim, Lisca e Mauricio Barbieri já haviam saído, respectivamente, de Vasco, Ceará e Goiás). Passamos anos dizendo que os torneios locais valem pouco ou que tiveram seu significado debelado nas últimas décadas, mas os percalços vividos nos quatro primeiros meses da temporada custaram o emprego de oito profissionais que comandavam times da Série A. Afinal, seja nas demissões, nas contratações ou no tratamento dado a cada certame, o que os clubes brasileiros mostram ano após ano é que o elemento mais difícil de ser encontrado por aqui é a convicção.
Valentim, por exemplo, levou o Vasco ao título do primeiro turno do Estadual do Rio de Janeiro e à decisão da competição. Foi subjugado pelo Flamengo, que tem incomparável poder financeiro, elenco mais vasto e um trabalho mais sedimentado. Em termos de desempenho, era impossível esperar algo maior do comandante cruzmaltino. Pesaram contra ele, portanto, dois fatores: o desempenho e o “vestiário”. Se a demissão estivesse baseada no primeiro motivo, poderia representar até uma evolução de pensamento por parte dos dirigentes da equipe carioca. Contudo, o fator preponderante para a saída dele foi justamente o outro – a relação deteriorada com o grupo de jogadores.
É grande a lista de treinadores que perdem seus empregos no Brasil pela mesma razão. Foi assim com Roger Machado no Palmeiras, por exemplo: os números não eram absolutamente desfavoráveis, o time ainda estava vivo em todas as competições e o desempenho caminhava para uma ideia proposta meses antes, mas a diretoria não suportou ver que o técnico não tinha controle absoluto sobre o grupo de jogadores. Preferiu trocá-lo por Luiz Felipe Scolari, dono de longo histórico vencedor à frente do time alviverde e de uma persona mais assustadora para o elenco. O título do Campeonato Brasileiro de 2018 é um argumento a favor da decisão da cúpula do clube, mas foi o suficiente para quem investiu tanto?
O desafio que está posto para os treinadores de futebol no Brasil não é construir times ou fazer com que suas equipes joguem bem. A meta é vencer, e se possível vencer com absoluto controle do que os jogadores fazem no campo ou fora dele. É uma esquizofrenia entre buscar os fins sem pensar nos meios, mas ao mesmo tempo controlar episódios que têm pouca ou nenhuma influência para o contexto.
Enquanto isso, não se discute a qualidade do jogo. Se Valentim fosse bem-sucedido à frente do Vasco, por exemplo, estaria no patamar de Fabio Carille, treinador extremamente vitorioso no Corinthians, mas outro que falha miseravelmente quando precisa apresentar qualquer ideia de jogo. É um profissional pronto para identificar problemas e corrigi-los, mas ainda não demonstrou repertório para propor soluções que não sejam reativas. Seus times são seguros, mas pobres, e por isso a vitória é o único caminho para validá-los.
O torcedor que acompanha futebol pode dizer que pensa apenas na vitória, mas isso contaria apenas parte da história. A paixão que as pessoas nutrem pelo jogo não advém de triunfos ou de conquistas, mas da narrativa. O torcedor festeja taças, é claro, mas o que ele quer é se sentir emocionado com um espetáculo – e essa emoção pode nascer de diferentes caminhos.
Pergunte a um torcedor do Santos, por exemplo, e ele poderá relatar a alegria que é ver um novo garoto surgindo e carregando a camisa que já foi de nomes como Pelé, Pepe, Pita, Robinho ou Neymar. Pergunte a cruzeirenses ou palmeirenses o que significa o jogo bonito e a importância de suas equipes serem conhecidas nacionalmente como símbolos do jogo bonito. Veja um atleticano, um corintiano ou um gremista fazer loas à raça de seus atletas e à relevância da dedicação como definidor de uma partida. Há muitos aspectos cativantes no jogo, e a vitória nem sempre é um deles.
A situação de quem renega a história é sempre mais frágil, e a constante troca de treinadores no futebol brasileiro tem a ver com isso. Num mundo em que falta convicção e o que se vende é apenas a vitória, sempre haverá mais insatisfeitos do que torcedores comemorando.
É justamente por isso que os clubes precisam abraçar suas histórias nos departamentos em que há essa possibilidade. Se o futebol é pragmático e prefere sucumbir aos caminhos fáceis usando a muleta da modernização ou da falta de talento, a comunicação e a gestão têm obrigação de entender as raízes das agremiações enquanto produtos.
Tome como exemplo a comemoração do título brasileiro do Palmeiras no ano passado, sequestrada por políticos ávidos por alguns segundos de fama. Ou o que aconteceu no domingo, em plena Arena Corinthians: o time alvinegro foi campeão em casa, superando um grande rival, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo dividiu com o goleiro Cássio, herói do título, a primazia de erguer a taça. Isso sem falar em um senador que invadiu a festa alvinegra a ponto de ter deixado o estádio com uma medalha destinada aos atletas vencedores.
O Corinthians, lembremos, é o time da “democracia corintiana”, um dos movimentos políticos mais relevantes da história do esporte brasileiro. É um clube popular, cujo alicerce está colocado na periferia da capital paulista. Há muito significado contido nesses capítulos do passado alvinegro, e qualquer associação política feita no presente deve considerar fortemente os laços estabelecidos naquele período. Não há uma obrigação de posicionamento à esquerda ou à direita, e tampouco existe uma necessidade de apoiar ou rejeitar determinados políticos, mas o clube precisa ter diretrizes e entender quais caminhos são mais eficientes no processo de aproximação com o torcedor.
O Flamengo tem feito exatamente o contrário disso. O clube que se orgulha de ser o mais popular do país, outro que tem raízes extremamente ligadas às camadas menos abastadas, tomou decisões institucionais que acabaram ganhando mais relevância do que o título conquistado sobre o Vasco. A principal delas foi o veto à expressão “#festanafavela”, algo comum entre os torcedores rubro-negros. Segundo reportagem publicada no último sábado (20) pelo jornal “Extra”, a X-Tudo, empresa responsável por administrar as redes sociais da equipe, vetou o uso do termo por entender que geraria uma associação a um contexto de violência.
O veto apareceu em mensagem distribuída pela própria X-Tudo aos funcionários que participam da administração das redes sociais do Flamengo, e a nota oficial em que o clube tentou desmentir a informação conseguiu ser ainda mais antipática do que essa clara tentativa de se voltar contra a própria história.
A condução da história consolida um momento especialmente conturbado para a imagem do Flamengo, que já havia cometido seguidos erros de comunicação e posicionamento na gestão de crise do incêndio ocorrido em um de seus centros de treinamentos. São nítidas a letargia e a dificuldade para dimensionar o tom nos posicionamentos recentes.
Também tem sido complicado o posicionamento político da atual diretoria, que tem oferecido espaço nos eventos do clube a um político que ficou famoso por ter quebrado uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro – ela era, aliás, torcedora da equipe rubro-negra.
O Flamengo recente tem feito de tudo para mostrar sua aproximação com políticos de um espectro mais conservador – o que não é proibido, diga-se, mas é um erro se partir de posicionamentos pessoais em detrimento de valores do clube. Já passou da hora de a atual diretoria explicitar quais são as predileções institucionais da equipe, o que acabaria com qualquer discussão sobre A ou B participarem mais ou menos do cotidiano.
Da mesma forma, o veto à “#festanafavela” é uma tentativa de elitização que demandaria um processo mais aberto e menos sussurrado. O Flamengo é e sempre foi povo, e não vai ser apenas com medidas assim que o clube conseguirá se afastar de sua história. Se é outra a imagem que a diretoria deseja, que isso seja dito de forma clara.
No fim, o que se viu no domingo foi um uso de “#festanafavela” entre torcedores, jogadores e funcionários do clube. A tentativa de sequestrar os valores que formaram a imagem de uma das instituições mais populares do país ainda não encontrou alguém que a encampe de peito aberto. E assim como acontece em campo, ninguém vira as costas para a história impunemente.

Categoria: Colunas
Categorias
Categorias
Pare de falar intensidade para tudo!
Um dos termos que mais se ouve atualmente no futebol é intensidade. Tal time foi intenso por isso venceu. Ou o contrário: faltou intensidade a equipe e por isso ela saiu de campo derrotada. É claro que usar uma única palavra para descrever um conceito amplo é uma habilidade linguística. Porém, nesse caso, ao invés de ajudar, usar a todo momento a palavra intensidade em qualquer análise de jogo é reduzir e até se equivocar para sintetizar as ações dentro de campo.
Vale contextualizar que as primeiras pessoas a estudarem no futebol foram os preparadores físicos. Eles vieram das universidades e trouxeram o termo intensidade evidentemente pelo viés físico. Só que em uma carga de treino, por exemplo, intensidade é apenas um dos elementos: temos também densidade, volume, carga e etc.
Trazendo a análise do futebol para a complexidade, a parte física é apenas um dos aspectos do jogo. Ele também é técnico, tático, emocional, cognitivo, bioquímico, espiritual e outros vários etc. Para avaliar se um jogador é intenso temos que englobar todos os elementos do jogo. José Mourinho, por exemplo, disse que o jogador mais intenso que ele dirigiu foi Deco. Ora, fisicamente Deco sempre foi comum. Mas o olhar complexo mostra que ele era intenso nas tomadas de decisões, ou seja englobando todos os aspectos do jogo. Messi é capaz de correr apenas 6 km e decidir uma partida. Ele não é intenso porque não corre muito? Ou será que sua intensidade está em fazer as escolhas certas e tomar as melhores decisões possíveis para tirar vantagens sobre seus adversários?
E para analisar a intensidade de uma equipe dentro desse olhar complexo temos que citar o conceito ‘Objetivo e Lógica do jogo’. De maneira simples, uma equipe cumpre esses dois itens quando faz mais gols que o seu adversário. E se ela chegar a isso com o menor gasto de energia possível melhor. Eu tenho o controle do jogo não quando eu corro mais que o meu adversário. Mas sim quando eu cumpro melhor os princípios ofensivos, defensivos e de transição. E a performance de uma equipe pode melhorar proporcionalmente a uma “queda” na parte física. Isso porque quanto melhor estão organizados os conceitos e mais enraizados e somatizados no corpo dos atletas menor será o gasto físico para cumpri-los. Marcar em linha alta ou em linha baixa, por exemplo, é um detalhe que em nada tem a ver com a parte física. Lembre-se correr certo (e menos) é melhor do que correr mais e errado.
Muito cuidado ao ouvir e sair repetindo por aí que uma equipe ganhou porque foi mais intensa que a outra. Nas linhas acima trouxe um olhar sistêmico e complexo do jogo. Na maioria das vezes o jogador com mais intensidade de uma equipe é o que menos aparece para o torcedor. Não porque ele não é importante. Pelo contrário. Mas sim porque sua inteligência faz o jogo como um todo e não ele especificamente ser rápido, dominante e eficiente.
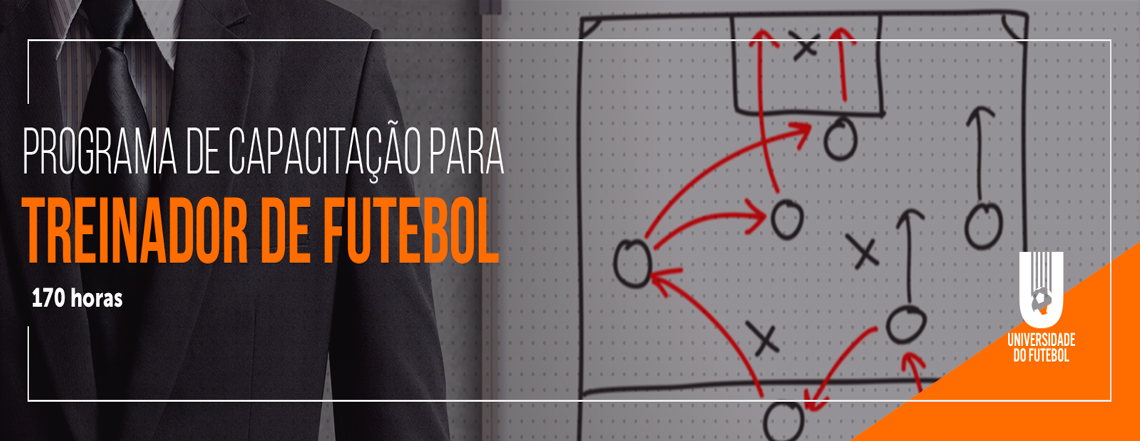
Categorias
Sobre a quebra da pressão por encaixes


Não faz muito tempo, e conversávamos aqui sobre a quebra da primeira linha de pressão adversária. Foi um momento interessante, no qual pude dizer, de maneira genérica, algumas ideias que me ocorrem sobre a primeira fase do ataque.
Quando atacamos, podemos enfrentar, grosso modo, três tipos de marcação: uma individual, outra individual dentro de um setor ou, por fim, uma terceira, por zona. Neste texto, gostaria de falar sobre a superação de uma pressão individual no setor, em um cenário muito específico: uma equipe que ataca a partir de uma linha de quatro contra uma equipe que se defende também com uma linha de quatro.
Vejamos.
***
O motivo da minha escolha temática é simples: as pressões individuais no setor são, provavelmente, as que mais encontramos por aqui. Podemos pensar em dois motivos principais: I) são raras as marcações puramente individuais, seja pela grandeza do terreno de jogo, seja pela destruição em potencial que uma individual pura pode acarretar (imagine, por exemplo, as repercussões de marcar individualmente um jogador que sai de uma ponta para a outra); II) são poucas as equipes brasileiras que partem, puramente, de referências zonais, talvez por uma herança cultural, ainda capilarizada no nosso processo formativo, que pode até ser amenizada ao longo dos próximos anos. Por fim, talvez nem mesmo as individuais no setor existam puramente – o que nos leva a um caminho interessante, ainda que longe do objetivo deste texto: o ato de marcar não é sólido, é fluido. As referências existem, condicionam a ação, mas são inteiramente deslocáveis de acordo com as demandas do jogo.
Bom, a situação que desenho aqui se assemelha muito ao cenário visto no recente Vasco x Flamengo, pela final do Campeonato Carioca, no último domingo. Basicamente, tive a impressão de que a pressão do Flamengo, organizada a partir de encaixes no setor, e que o Vasco teve dificuldades para superar, foi central para o encaminhamento que já se desenhava no primeiro tempo e que, mais tarde, seria materializado no resultado. Pensemos aqui, portanto, em um cenário parecido ao que houve neste jogo: uma equipe que ataca em 4-2-3-1 contra uma outra equipe que se defende em uma espécie de 4-1-4-1.
Neste caso, há uma primeira superioridade muito clara. Ela está logo no início da construção: com dois zagueiros contra um atacante, temos invariavelmente uma possibilidade a mais nesta fase. Caso o goleiro desta mesma equipe se sinta confortável jogando com os pés (como é o caso de Fernando Miguel, do Vasco), nada impede que tenhamos, portanto, eventuais situações de 3 v 1, o que permitiria vantagens muito interessantes na primeira fase da construção. Para isso, é preciso circular a bola até encontrar o zagueiro, dentre os dois, que tenha tempo e espaço suficientes para conduzir a bola adiante, quebrando a primeira linha. Repare que a circulação, por si só, não basta: ela precisa ser consideravelmente rápida, ou então os deslocamentos tanto do atacante quanto da linha que o precede podem ser suficientes para bloquear a progressão deste homem livre.
Isto dito, pensemos no comportamento de laterais e volantes. Contra uma equipe que se defende em 4-1-4-1, com referências individuais no setor, você haverá de convir que temos encaixes bastante claros entre laterais que atacam e pontas que se defendem e entre volantes que atacam e meias que se defendem, correto? Da mesma forma, o meia central da equipe que ataca (neste exemplo, Bruno César) também está acompanhado pelo volante adversário (no caso, Gustavo Cuellar). Ou seja, em condições normais, ao menos cinco opções de apoio em potencial estão bloqueadas a priori, o que obviamente restringe as possibilidades de construção de uma equipe que pretende atacar por baixo – como são as intenções do Vasco. Em um cenário conservador, resta como alternativa a ligação direta entre goleiro/zagueiros e centroavante, o que não necessariamente é um recurso negativo mas, vez por outra, pode ser muito mais um recurso de emergência, ao invés de uma escolha deliberada e alinhada ao modelo.
Neste cenário, portanto, o que podemos fazer?
***
Existe uma limitação importante nas individuais por setor. Talvez esteja até menos no individual e mais no setor: há um limite espacial até onde um certo jogador será acompanhado. Mas este limite, expresso no espaço efetivo de jogo, não é um limite claro e estático. É um limite dinâmico e fluido, que não pode ser inteiramente determinado, pois é dado pelo jogo. É neste limite que está o gatilho para o engano. Por exemplo, até onde o volante adversário está disposto a acompanhar o nosso meia central, caso ele se movimente? Até onde ele estará disponível para deslocar-se vertical ou lateralmente? Se for metros e metros distante da posição, quais serão os comportamentos da equipe para suprir este espaço?
(aliás, indico aqui este vídeo, que mostra brevemente como Pep Guardiola desenhou a superação da pressão do Chelsea, sabendo dos comportamentos defensivos de Jorginho, visíveis desde o Napoli).
No caso do Engenhão, Bruno César (ou quem quer que jogasse por dentro) seria acompanhado por Cuellar – dentro de um determinado raio. Portanto, atrair a marcação de Cuellar, deixando o setor vago, era uma alternativa bastante razoável. Mas quem poderia ocupar aquele espaço? Se for o centroavante (sabendo que partimos de uma estrutura em 4-2-3-1), repare que o recuo do centroavante será acompanhado por um dos zagueiros, ficando o outro na cobertura. Caso o atacante não seja claramente superior, ou mesmo se não houver comportamentos coletivos para aproveitar uma eventual parede, talvez não seja ele, centroavante, o mais indicado para ocupar este espaço.
Uma outra possibilidade, inclusive apresentada pelo Flamengo neste mesmo jogo, é o movimento dos volantes/meias, saindo do espaço inicial, deixando os marcadores sem referência. Cuellar, William Arão, e Èverton Ribeiro (como um terceiro homem) giravam pelo centro do campo, o que me parece ter trazido importantes problemas defensivos ao Vasco, especialmente quando associados ao movimento de Arrascaeta, que também se juntava por dentro, de modo que o centro ficava ocupado e os flancos, livres para os laterais (sabendo que Bruno Henrique e Gabriel jogavam por dentro, adiante).
Portanto, é preciso haver um trunfo, pelo menos um. E o trunfo, me parece, está no movimento dos pontas. Veja bem, se os pontas tiverem comportamentos dóceis, obedientes ao espaço, eles darão à defesa exatamente o que ela precisa: previsibilidade. Na ausência de apoios (laterais, volantes, meia), os pontas devem movimentar-se, recusando o próprio setor (enganando o lateral) e criando espaços sem qualquer lugar, seja no corredor central, às costas dos volantes, seja no corredor oposto, junto do ponta oposto (por quê não?), seja próximo do círculo central, mesmo que no campo defensivo, buscando inclusive superar a linha num drible, caso seja possível (por quê não?), mas é preciso criar instabilidades, nomeadamente no setor da bola, pois se não houver liberdade, se não houver a fluidez necessária ao momento ofensivo e ao jogo, basicamente o ataque será domesticado por sistemas defensivos com atletas de bom nível. Da mesma forma, quantas possibilidades surgiriam se uma dada equipe, no início da construção, tivesse mecanismos de inversão entre lateral e ponta (especialmente quando os pontas jogam com pés invertidos), causando novos enganos ao marcador responsável pelo indivíduo e pelo setor? Qual seria o comportamento do adversários neste caso? (dica: ficariam perdidos).
Ainda neste sentido, Yago Pikachu, aos 33 minutos do primeiro tempo, fez uma leitura absolutamente precisa, saindo do próprio setor e recebendo às costas de Cuellar, no espaço deixado por Bruno César, causando enorme desequilíbrio na defesa do Flamengo.
***
Evidente que este é um mero recorte. São inúmeras as possibildades para superar as mais diversas estruturas e referências defensivas. Mas várias delas (se não todas) se baseiam em uma premissa muito parecida: o movimento. Quanto mais estáticas e mecanizadas nossas equipes, maiores serão os triunfos defensivos. Quanto maiores forem as instabilidades, criadas pelas ideias ou pelo instinto, maior será a força do possível. Talvez o sucesso do Ajax, pura fluidez, deixe isso ainda mais claro.
Continuamos em breve.


Na última semana a entidade máxima do futebol no Brasil apresentou novo escudo, que se confunde e se mistura com o amarelo da camisa. Está mais “limpo”. Mantém-se a cruz pátea, as estrelas das Copas do Mundo conquistadas pela seleção masculina principal e a inscrição “BRASIL”. Em um primeiro olhar, não parece que mudou muita coisa. Ademais, a camisa reserva terá a cor branca. Uma pá de terra para cobrir a ideia de que o uniforme branco traz má sorte, como a que deu a derrota na Copa de 1950.

Sem dúvida que a indumentária branca carrega um estigma. Mas antes de ser, foi com esta cor que o Brasil teve a sua primeira conquista internacional, que neste ano completa o seu primeiro centenário: a Copa América de 1919, realizada no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Cem anos depois o certame volta ao Brasil. Como toda a história e palmarés, devem ser lembrados e celebrados. Ademais, tabus não são eternos e faz bem livrar-se deles. Brasil e Uruguai decidiram a Copa América de 1989 no Maracanã, em um 16 de julho, exatamente 39 anos depois de a seleção brasileira ter perdido a Copa do Mundo para os orientais. Em 1989 o Brasil venceu.
Data e estádio não perdem jogo. A camisa branca é respeito às origens do escrete brasileiro, para não falar dos ídolos de outrora: Barbosa, Friedenreich, Leônidas da Silva, Bigode, Preguinho, Marcos Carneiro de Mendonça, entre outros.
A mudança evolutiva no símbolo da CBF, como vimos nesta coluna em outros textos, é sinal dos tempos. Percebe-se conexão do escudo com a camisa, as cores não mudam. Parece mais “limpo” e claro, segue sendo de fácil identificação e desenho. Sugere dinamismo e sinergia: sempre se fala: “CBF é uma coisa e seleção brasileira é outra”. Em outras palavras, a faixa amarela do escudo o conecta ao amarelo da camisa, o que sugere serem um só.
Com tudo isso, essas mudanças são bem-vindas e este colunista se arrisca a dizer que elas, a prazo, podem determinar caminhos mais transparentes para a organização. Se seleção e CBF são uma só (de acordo com a leitura e interpretação supracitadas), é preciso seguir a linha, agir e atuar como historicamente fez a seleção nacional brasileira de futebol: a serviço da modalidade no Brasil, servir e representar o povo brasileiro e sua identidade nacional.
——-
Em tempo mais uma frase desta coluna:
“Nunca foi. Ambição, desejo de se tornar herói nacional e ganhar mais dinheiro sempre foi mais forte.”
Tostão, campeão mundial de futebol em 1970, sobre em o alto-rendimento no esporte ser lugar para desenvolver valores morais e éticos
Certa vez ouvi que vence no futebol quem erra menos. Poxa, quer dizer então que não é quem acerta mais?! Claro que vai depender do ponto de vista. Mas passei a refletir sobre esse viés e, mesmo contrariando toda a minha formação também em Coaching que visa focar no positivo, passei a enxergar o erro de maneira muito mais didática no futebol. Até por ser um jogo de oposição o erro prevalece mais do que o acerto. Na relação defesa x ataque, por exemplo: são necessárias noventa, cem ações ofensivas para saírem dois, um, as vezes nenhum gol. Não só isso. Em contratações, se erra muito mais do que se acerta mesmo com todo o avanço da análise de desempenho. Em um ambiente caótico e instável, só os números não respondem tudo.
Contextualizo o erro no futebol para entender e explicar porque Corinthians e São Paulo farão a final do Campeonato Paulista. Não necessariamente eles foram melhores do que Santos e Palmeiras. Mas erraram menos.
O Santos fez uma partida espetacular diante do Corinthians no Pacaembu. Agressivo no ataque, com conceitos coletivos claros como amplitude, mobilidade, ultrapassagem, enfim, tudo o que norteia o Jogo de Posição do qual o técnico Jorge Sampaoli é um entusiasta estava ali. Porém, uma equipe que finaliza mais de trinta vezes e faz apenas um gol viu o seu adversário errar menos. Que fique bem claro, a retranca corintiana de Fábio Carille não me agradou. Foi feia. Mas inegavelmente eficiente.
Já o São Paulo soube transformar sua fraqueza em sua maior virtude diante do Palmeiras. A fragilidade política, financeira, de títulos recentes, de grandes nomes (Pablo e Hernanes estavam fora) ou seja, todo um cenário de azarão fez com que a equipe crescesse e deixasse exposta a fragilidade do modelo de Felipão quando as individualidades não estão bem. É claro que houve o dedo técnico e tático dos parceiros Cuca e Vágner Mancini, como Hudson na lateral-direita, a opção pela ótima dupla de volantes Luan e Liziero, não jogar com um centroavante no segundo confronto para ter mais velocidade e etc. Porém, foi no aspecto mental que o Tricolor errou menos que o Verdão. E olha que curioso, justamente o time que não vencia clássicos, que está há mais tempo na fila, foi o que deu um banho no jogo mental-confiança.
Em uma época de muito estudo e muita evolução no futebol os detalhes não podem passar batidos. Não vai vencer o melhor. Vai vencer quem errar menos.

Categorias
Sobre a (pretensa) subtração da tática


Em recente coluna do ótimo Carlos Eduardo Mansur, vejo um olhar bastante interessante sobre a direção dos nossos debates nas últimas semanas. Em linhas gerais, criou-se aqui e ali uma espécie de aversão à ‘tática’, como se a ‘tática’ (quando entendida de uma forma bastante particular) fosse a responsável por alguns dos supostos fracassos recentes do futebol brasileiro.
Na verdade, essa crítica não foi exatamente criada– já existia e estava adormecida. Como dizem Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, no ótimo ‘Como as democracias morrem’, a história não exatamente se repete, a história rima. Este tempo (não apenas no futebol) é tempo de rimas, e para sobrevivermos é preciso criarmos outras, melhores. A ciência, portanto, não basta: é preciso poesia também.
Neste texto, gostaria de puxar uma conversa sobre dois temas centrais: a diferença entre tática e esquemas táticos e como isso se associa à reflexão que fizemos na semana passada, sobre a hiperestruturação espacial que se desenha, sutilmente, no futebol brasileiro.
***
Grosso modo, o argumento trazido por Mansur (refletindo o que, de fato, tem sido propagado por diversos colegas) dá conta de que a suposta ‘morte’ do futebol brasileiro se dá por um ‘excesso de tática’. A solução, bastante simples, seria que houvesse ‘menos tática’. Por esse raciocínio, a impressão é de que o jogo é uma equação matemática (portanto, causal) na qual a adição e/ou subtração de coisas seriam necessárias ao preciso resultado final. Neste momento histórico, seria preciso um sinal de menos, seria preciso subtrair algumas unidades da tática. Bom, este argumento me gera um sentimento duplo. Direi abaixo o porquê.
Por um lado, ouvir que é preciso ‘menos tática’ me deixa ligeiramente assustado, não exatamente pela subtração, mas pelo ideal de tática que o precede. Este é um ponto importante: no último final de semana, respondendo ao amigo Bruno Madrid, do BOL, ressaltei o quão importante é refletir sobre o significado médio que damos à tática. Para alguns colegas, a ‘tática’ é vista como um fenômeno menor, secundário, que se materializa basicamente a partir dos esquemas ou sistemas táticos. Aqui, tática seria sinônimo de 4-4-2, 4-3-3 e adjacentes (sinto, na verdade, que a aversão maior é à linguagem, não à ‘tática’ em si). Por sua vez, há quem veja a tática como um fenômeno maior, prioritário, como uma nascente, por onde afluem todos os problemas do jogo. Aqui, não é possível adicionar ou subtrair, porque o jogo não é mais/menos: o jogo é tático. É por ela que o jogo se manifesta.
Pelo primeiro argumento, o excesso de ‘tática’ seria responsável por uma suposta pobreza ou esterilidade do futebol brasileiro. Para resolvê-la, então, o que fazemos? Fazemos ‘menos tática’, nos preocupamos menos com os esquemas (com as estruturas, se você preferir), damos mais atenção ao jogo jogado ou mesmo ao talento, revivendo uma suposta ‘essência’ do futebol brasileiro (que acaba sendo altamente questionável). O problema deste argumento é que começa bem, mas termina mal. De fato, desconfio que nosso ideário futebolístico, especialmente do ponto de vista tático, está se tornando demasiado sólido, rígido, às vezes inflexível (ainda que se diga o contrário), e seus reflexos estão cada vez mais claros no jogo jogado: parte-se, cada vez mais, de uma inquestionável ‘ordem’, confrontando-se a fluidez e a liberdade que estão vinculadas à natureza do jogo (é do caos que nasce a ordem!), de modo com que esteja mais difícil superar as estruturas fixas e as defesas cada vez mais estruturadas que se criam não apenas no futebol, como nas modalidades coletivas de invasão, como um todo.
Só que fluidez não significa, em hipótese alguma, ‘menos tática’. Porque a tática não se resume aos esquemas/sistemas, ela está acima deles. Pense comigo: o jogo de futebol tem uma lógica própria, um logos. Este logos arrasta consigo um telos, um objetivo. Qual é o objetivo do jogo de futebol? Fazer com que um objeto esférico, que desliza pelo campo, entre na meta adversária. Para chegar a ele, temos de resolver os problemas do logos– que se expressam, justamente, pela tática! Neste sentido, me agrada pensar que os esquemas estariam para a tática assim como os galhos estão para uma árvore – em uma grande floresta, o jogo. Os esquemas são derivações, pequenas expressões de onde está contida a tática, mas que, sozinhos, não são a tática, de fato. Basicamente, o que nossos colegas estão dizendo é que a árvore brasileira, que já não seria tão frondosa como fora um dia, tenha seu problema nos galhos. E qual a nossa solução? Que a árvore seja ‘menos árvore’. Não, não é disso que se trata.
Se você preferir, pedir ‘menos tática’ é como pedir que a água, quando líquida, esteja menos molhada. Não, isso não é possível. O que acho que fazemos, sob o argumento da ‘modernidade’, é mudar o estado físico da água, deixando-a em pequenas pedrinhas de gelo, metodicamente dispostas e visíveis, em formas grandes ou pequenas. Mas, no jogo, tudo o que é sólido desmancha no ar. É disso que se trata a crítica que fiz na semana passada: defendo que os processos formativos e o rendimento reflitam nosso jogo, nomeadamente no ataque, não está ultraguiado pelos ideais de ‘ordem’, deslocando a balança para um extremo perigoso, que ignora a fugacidade e o movimento inerentes ao jogo e à vida. Para isso, para criar ‘ordens’, precisamos compreender o caos (ao invés de negá-lo) e dançar com ele, inclusive do ponto de vista metodólogico.
Continuamos essa conversa em breve.
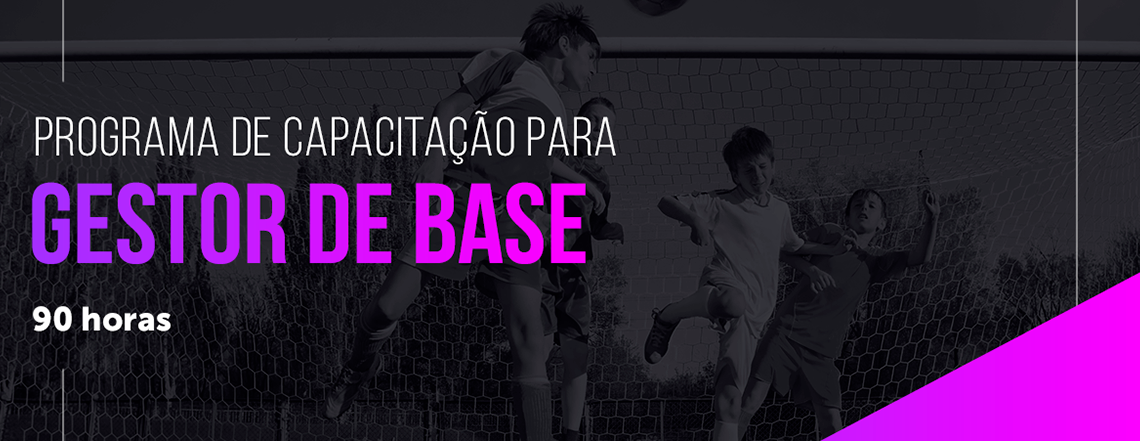
No último fim de semana o autor desta coluna terminou a leitura do excelente livro “Red Card: how the U.S. blew the whistle on the World’s biggest sports scandal” (Cartão Vermelho: como os EUA soaram o apito no maior escândalo esportivo do mundo), de Ken Bensinger. Já havia lido “O Delator”, de Allan de Abreu. Um livro é mais específico aos casos brasileiros; o outro levanta as investigações pelo mundo. Ambos tratam do “FIFAgate”, escândalo que envolveu corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de tributos que colocou na prisão vários ex-dirigentes do futebol mundial.

Muitos deles eram da CONCACAF (Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e do Caribe) e da CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol). Por conta disso, os direitos de transmissão da Copa América eram objetos diretos de inúmeras operações ilegais. Para o colunista, tornou-se difícil dissociar o torneio das quase três décadas de crimes ligados a este grande patrimônio Sul-Americano: o futebol. Dos bilhões que foram deixados de se investir para o desenvolvimento do esporte local a fim de satisfazer extravagâncias de gestores que deveriam estar a serviço do esporte.
Recomendo as duas leituras.
No mundo corporativo, diz o ditado que as pessoas vão e vem, mas que a organização e o propósito, ficam. E assim está a Copa América há mais de uma centena de anos. O futebol como fator sine qua non para a consolidação do Estado Nação moderno na América do Sul: a unicidade argentina, a mistura das raças no Brasil, os ideais republicanos no Uruguai. A modalidade ajudou a moldar tudo isso aí nas jovens nações sul-americanas e, especialmente, a Copa América.
E isso, sim, é indissociável.
Ademais, o jeito de torcer e desfrutar o futebol neste canto do planeta são únicos. Não se compara. As rivalidades, também. São muito intensas, mas – com exceção de algumas – não possuem origens em hostilidades que custaram vidas. Estão, na verdade, dentro de campo, o que lhes confere autenticidade; e ser autêntico é uma das características que a América do Sul tem de mais evidente, quer seja no futebol ou nas relações humanas. Claro, há muito para melhorar.
Com tudo isso, não há dúvidas de que a Copa América é um grande torneio e um excelente produto. Romper com o passado obscuro citado no início da coluna é desafio, entretanto feito facilmente, apoiado na vantagem competitiva do futebol por estas bandas, construído em mais de cem anos. É preciso se reinventar: capital humano dentro e fora de campo, por aqui, existe.
——-
Em tempo mais uma frase relacionada à Gestão e Marketing Esportivo:
“Se a Disney fosse um clube brasileiro, venderia o Mickey e não os seus desenhos animados.”
Walter de Mattos Junior, presidente do diário “Lance!”
Categorias
Paulistinha ou Paulistão?
O futebol brasileiro é meio, e não destino. Essa é uma das principais razões para a falta de profundidade no debate sobre o jogo em âmbito nacional – afinal, se todo o ambiente é apenas passagem, por que perder tempo discutindo sua constituição? Os meninos do país sonham com um futuro nos grandes clubes locais porque veem ali um trampolim – para a Europa, a independência financeira ou a conquista de respeito; os dirigentes usam equipes em projetos pessoais para incremento de popularidade – em nome de uma vida na política, por exemplo – ou apenas por poder. O que sobra é um ecossistema formado por gente que não escolheu estar ali. Os atletas podem ser divididos entre os que ainda não foram para fora, os que foram e não se consolidaram, os que estão velhos demais para permanecer fora ou os que não tiveram qualidade para sair. No fim, o que os une é a sensação de que o Brasil deixou de ser escolha de vida.
Essa lógica é cruel para quem tenta vender a narrativa do futebol brasileiro. O menino que dá seus primeiros chutes sonha com o Barcelona, o Real Madrid ou qualquer time da Premier League, e os clubes de seu país, por mais populares que sejam, passam a funcionar apenas como um degrau inferior. Não há nada de errado em cultivar esses sonhos, mas cria-se aí uma hierarquia. E quando a hierarquia é estabelecida, toda a cadeia é afetada. As rivalidades locais, por exemplo, perdem sentido num mundo em que o Tejo não é o rio mais belo.
Em outras épocas, quando prevaleciam características como o orgulho local, Estaduais de futebol faziam mais sentido do que outras competições. Por isso é tão sintomático que a Copa Libertadores tenha crescido em relevância no imaginário do torcedor brasileiro: não foi o torneio que se engrandeceu, mas a maneira de pensar (e de se relacionar com o jogo) que mudou.
Os Estaduais sobrevivem no futebol brasileiro como instrumento político e como lembrete de outra forma de pensar o esporte. São certames baseados em rivalidades que fazem cada vez menos sentido. No entanto, são raros os times nacionais que conseguiram atualizar de forma condizente a maneira de encarar essa parcela do calendário – o Athletico é certamente o melhor exemplo.
A dicotomia entre o que vale o campeonato e o que os torcedores esperam cria uma situação extremamente desconfortável para quem trabalha com comunicação no futebol local. Ninguém comemora de forma efusiva quando vence um Estadual, mas ninguém quer perder. Só que o Palmeiras elevou a outro nível essa discussão.
Por razões políticas – está rachado com a FPF (Federação Paulista de Futebol) –, o Palmeiras tem histórico de menosprezo ao Campeonato Paulista. Mauricio Galliotte, presidente do clube, já chamou o torneio de Paulistinha. Os perfis oficiais do clube em redes sociais também usaram o termo, e o técnico Luiz Felipe Scolari disse no último domingo (07), após ter sido eliminado pelo São Paulo nas semifinais, que cogitou tirar o time de campo quando viu que um gol anotado pelo atacante Deyverson havia sido anulado por impedimento após uso do VAR (sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo).
O Palmeiras, que trata há tempos o Estadual como algo menor, é atualmente um dos elencos mais badalados do futebol brasileiro. É um clube com finanças equilibradas, patrocinadores fortes e potencial de investimento.
Existe, portanto, uma expectativa de que o elenco seja forte e dominante em todas as competições. Essa expectativa é ainda maior no Estadual, um torneio que o próprio clube trata como “menor”. Se é um evento tão fraco assim, por que o Palmeiras não sobra em relação a seus rivais?
Se quisessem ser condizentes com o tratamento dado ao campeonato, diretoria e comissão técnica do Palmeiras deveriam tirar do Estadual os principais destaques de seu elenco. Por que usar nomes como Ricardo Goulart, Dudu e Felipe Melo em uma competição que vale tão pouco? Por que não dar chances aos destaques da base ou a contratações menos badaladas, como Arthur Cabral e Matheus Fernandes?
Quando optou por usar seus titulares, o Palmeiras criou um cenário em que só tinha a perder. Se fosse campeão paulista, teria cumprido apenas a obrigação de um time tão rico e poderoso – vencer o torneio que vale menos. Perdendo, colocou ainda mais interrogações no trabalho desenvolvido até aqui. Valeu a pena?
Os times brasileiros precisam decidir o que fazer com os Estaduais, e isso precede qualquer discussão sobre calendário ou estrutura. Não adianta tratar o evento como algo menos relevante, mas demitir um treinador por uma derrota em fase inicial ou usar todos os titulares nos clássicos.
Em 2019, Grêmio e Internacional contribuíram para essa discussão ao esvaziar um clássico no Campeonato Gaúcho – ambos usaram apenas reservas. O Palmeiras poderia ter feito o mesmo – sobretudo por ter elenco suficiente. No entanto, ao optar por um caminho que não conseguiu unir decisões e declarações, o time paulista serviu apenas como exemplo de como o processo de comunicação permeia instâncias muito maiores do que as redes sociais e interfere em tudo.

Categorias
Alexandre Pato, a eterna promessa
O futebol nunca foi um esporte unilateral. Nunca é apenas um aspecto que explica vitórias e derrotas. Toda vez que fragmentamos a análise nos aproximamos do erro. O jogo é técnico, tático, físico, emocional, espiritual e etc e mais outros tantos etcs. Por isso não cabe a meu ver, por exemplo, a mais nova polêmica criada: falar ou não de tática. Claro que devemos falar! Mas como meio e não como fim. Assim como quando se avançou no estudo da parte física não podíamos resumir o jogo a ver apenas quem corria mais ou estava mais forte. Uma análise integrada, sistêmica, multifatorial e transdisciplinar me parece a mais coerente para errar menos.
Vamos então, caro torcedor, falar de Alexandre Pato, novo (velho) reforço do São Paulo. Tecnicamente, acima da média. Fisicamente, razoável, com bons tiros curtos e explosão muscular interessante no drible mais longo. Taticamente, já podemos questionar se sem a bola ele consegue cumprir sua função. E indo para o lado mental, psicológico, espiritual e o que mais quiser usar para definir tudo o que compõe o caráter competitivo de um atleta, minha avaliação de Pato cai para patamares próximos do zero, sendo assim sua faceta mais notável.
Pato obteve, merecidamente, sucesso e reconhecimento muito rápido. Ainda adolescente já era campeão do mundo com o Inter e pouco tempo depois jogador do poderoso Milan. A expectativa era gigantesca. Seus atributos técnicos davam a impressão de uma carreira longeva no mais alto nível europeu e protagonismo com a seleção brasileira por três Copas do Mundo. Não foi isso que aconteceu. Justamente pelo aspecto comportamental. Falta fome a ele, intensidade. Vontade de fazer além. Inconformismo com o mais do mesmo. Essas habilidades que não são técnicas e sim mentais são traduzidas em ações dentro de campo. De nada adianta Pato ser bom com a bola nos pés se ele não se movimenta, se ele não procura o jogo, se ele não ‘janta’ o adversário, se ele não entra em disputas de bola.
O São Paulo caiu na análise fria dos números. Ou talvez até no frissom que o nome dele ainda desperta. Porque realmente Pato fez muitos gols com a camisa tricolor em sua passagem anterior. Realmente ele causa um alvoroço na mídia e na torcida. Mas só isso não basta. Qualquer análise mais profunda e sistêmica indica que Pato não decidirá jogos e campeonatos para o Tricolor. Seu perfil e personalidade em nada se encaixam com a bravura que se espera em um clube que vive em crise e que não ganha nada há dez anos. Contratações impactantes podem dar mídia por alguns dias. Porém, deixarão um vazio em campo e no caixa por vários anos. Não compensa…
Vamos então, caro torcedor, falar de Alexandre Pato, novo (velho) reforço do São Paulo. Tecnicamente, acima da média. Fisicamente, razoável, com bons tiros curtos e explosão muscular interessante no drible mais longo. Taticamente, já podemos questionar se sem a bola ele consegue cumprir sua função. E indo para o lado mental, psicológico, espiritual e o que mais quiser usar para definir tudo o que compõe o caráter competitivo de um atleta, minha avaliação de Pato cai para patamares próximos do zero, sendo assim sua faceta mais notável.
Pato obteve, merecidamente, sucesso e reconhecimento muito rápido. Ainda adolescente já era campeão do mundo com o Inter e pouco tempo depois jogador do poderoso Milan. A expectativa era gigantesca. Seus atributos técnicos davam a impressão de uma carreira longeva no mais alto nível europeu e protagonismo com a seleção brasileira por três Copas do Mundo. Não foi isso que aconteceu. Justamente pelo aspecto comportamental. Falta fome a ele, intensidade. Vontade de fazer além. Inconformismo com o mais do mesmo. Essas habilidades que não são técnicas e sim mentais são traduzidas em ações dentro de campo. De nada adianta Pato ser bom com a bola nos pés se ele não se movimenta, se ele não procura o jogo, se ele não ‘janta’ o adversário, se ele não entra em disputas de bola.
O São Paulo caiu na análise fria dos números. Ou talvez até no frissom que o nome dele ainda desperta. Porque realmente Pato fez muitos gols com a camisa tricolor em sua passagem anterior. Realmente ele causa um alvoroço na mídia e na torcida. Mas só isso não basta. Qualquer análise mais profunda e sistêmica indica que Pato não decidirá jogos e campeonatos para o Tricolor. Seu perfil e personalidade em nada se encaixam com a bravura que se espera em um clube que vive em crise e que não ganha nada há dez anos. Contratações impactantes podem dar mídia por alguns dias. Porém, deixarão um vazio em campo e no caixa por vários anos. Não compensa…

Dos grandes problemas do futebol moderno, há um que me interessa em particular: o problema do ataque. Como treinadores e treinadoras, o que podemos fazer para que nossas equipes criem situações de gol (com bola rolando, especialmente), em uma base regular?
Vamos começar pelo avesso: sabemos que defender bem está longe de ser tarefa simples. Ao mesmo tempo, aqui entre nós, a defesa parece ocupar um lugar prioritário na agenda futebolística contemporânea. Não se trata de uma crítica, é mais uma constatação: além de sintoma do nosso tempo, reflete também a desconfiança e a instabilidade a que treinadores e treinadoras estamos submetidos.
Neste texto, gostaria de refletir sobre o problema do ataque. Para isso, eu mesmo preciso atacar: meu ataque será às estruturas. Até chegar lá, faço um pequeno passeio pela ‘ciência’ – entre aspas mesmo.
Depois, ofereço uma solução: o movimento.
***
Como conversamos em outras oportunidades, o futebol moderno, que não se faz alheio à vida, empresta elementos da assim chamada ciência. Digo ‘assim chamada’, dentre outros motivos, porque falar em ‘ciência’ presume que os discursos científicos, grosso modo, estão no singular, livres de tensões. É como se o empréstimo de ferramentas científicas viesse acompanhado de um carimbo, uma espécie de chip, que marca e iguala os que delas se apropriam (ou servem, para alguns, como expressão de autoridade). Além disso – e digo apenas de passagem, pois já tangenciei este tema em outros momentos-, parece assustadoramente comum uma certa romantização da narrativa científica, como se a ‘ciência’, por si só, fosse capaz de reverter todas as fragilidades humanas. Inclusive as do futebol.
Mas não, a ‘ciência’ não é una e, embora protagonista de inúmeros avanços ao longo da história, tem limites. Ela não é capaz de resolver, na sua totalidade, os problemas do jogo – talvez porque o jogo seja mais arte do que ciência. Mas há um percurso científico, em particular, que nos acompanha onde vamos, conscientemente ou não: o percurso da ordem. Os caminhos abertos por volta do século XVII (com Francis Bacon e René Descartes, por exemplo), são caminhos ordeiros, objetivos, que apostam nas luzes em oposição às supostas trevas, não apenas porque o conhecimento deve estar visto (o que é positivo), como o conhecimento deve estar controlado, regulado, generalizado, alheio às paixões e, em última análise, alheio ao humano. ‘Os afetos contaminam o objeto’, diria alguém.
Muito bem, eis que o futebol, ao seu modo e a seu tempo, recorre a diversos elementos desta mesma ‘ciência’ para olhar para as mais diversas faces do jogo. De certa forma, portanto, o futebol aceita a companhia da ordem e do controle. Isso, por si só, não é negativo (pois permitiu alguns progressos importantes que obtivemos como área nas últimas décadas). Mas será que a nossa geração, tão fortemente herdeira da academia (vide os cursos de formação de treinadores, por exemplo), ao mesmo tempo em que tão carente de pesadas ferramentas reflexivas, não sofre do efeito reverso? Será que o fetiche da ordem não nos domina, sutilmente, no futebol e na vida?
Aposto que sim, e vejo um grande reflexo disso exatamente nos nossos ataques. Quando defendemos, precisamos lidar com inúmeras variáveis, mas a bola não está conosco. Quando atacamos, para além das mesmas variáveis (eu, companheiro, adversário, alvo…), também estamos em posse da bola e precisamos levá-la até o gol, criando os devidos espaços. Mas, se demasiadamente ordenados, será que conseguiremos? Hoje, pensando no caso brasileiro, estamos mais ‘organizados’ em campo do que há 20 anos, mas nosso jogo não está necessariamente mais agradável. Pelo contrário, sinto que nosso jogo (contra a nossa vontade) flerta com o burocrático, o pragmático, o controlado, o regulado e generalizado, alheio às emoções. Talvez porque nosso jogo não está mais ordenado, mas está se tornando hiperordenado, submetido à ordem, desde as primeiras categorias do processo formativo até o profissional. Fincamos os dois pés na ‘ciência’, mas nos esquecemos da poesia.
A grande expressão da ordem no futebol moderno está na noção de estrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que, hoje em dia, nossa agenda parte da forma, não do conteúdo. Mas como cuidamos da forma em um jogo que é fluido, fugaz, em que tudo está, mas nada é? Em um tiro de meta, por exemplo, estamos todos cuidadosamente dispostos, amplitude e profundidade máximas, simetria quase que perfeita, atendendo perfeitamente aos postulados que construímos, ao longo do tempo, para guiar nossas tomadas de decisão. Evitamos ao máximo as armadilhas do imprevisível, até que vem o jogo e, ops!, vence nossa rigidez (uma, duas, inúmeras vezes!). Nas nossas entrevistas, citamos a esperança de jogarmos da maneira mais ‘organizada’ possível. Mas o jogo é ordem?
Não, o jogo não é ‘ordem’, ou melhor: a ordem do jogo é criada de maneira muito particular. Para o jogo, não se deve criar ordens para novas ordens. É preciso criar o caos! E o caos, aqui, se cria através do movimento. Não do movimento a partir da estrutura, mas (repare bem aqui) do movimento apesar da estrutura, a estrutura seguindo o movimento, a liberdade sobre a contingência. Ao marinheiro, não cabe domesticar os mares para então navegar, marinheiros se fazem em mar revolto! O jogo, da mesma forma, não é mar tranquilo: o jogo é tempestade e somos nós, marinheiros e marinheiras, quem devemos dançar ao som da chuva, da fugacidade, da impermanência e da rebeldia. Por que devemos ser simétricos? Por que não podemos lotar o setor da bola com três, quatro, cinco jogadores, deixando o lado oposto em flagrante inferioridade? Por que nossos jogadores precisam partir de uma dada posição, à revelia dos problemas do jogo? Quando daremos entrevistas (com algum sarcasmo) dizendo que esperamos que nossas equipes sejam as mais caóticas possíveis?
É claro que isso tem implicações metodológicas fundamentais. Quem desejar o movimento precisa cultivar a liberdade. Desde os primeiros passos do processo formativo, nossos garotos e garotas precisam sentir-se livres. É preciso deixá-los jogar! É preciso deixá-los descobrir as diversas funções dentro do campo, descobrir outras formas de expressão, com outras linguagens, sejam elas a linguagem do drible, do passe, do engano, do desmarque, todas elas! Ao invés de prender-se ao rótulo, ao carimbo (sou lateral! zagueiro! atacante!), nossos pequenos e pequenas precisam sentir-se jogadores, pessoas humanas em movimento, capazes de ir até os problemas do jogo, ao invés de esperá-los passivamente. Movimento.
Para as categorias maiores, não vale o mesmo?
Bom, retomamos este assunto em breve.