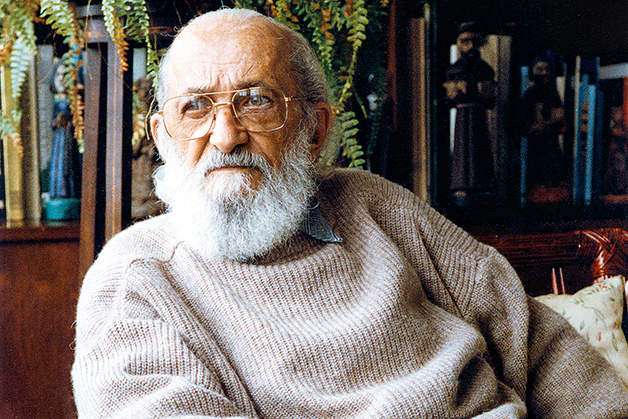O novo incomoda. Sempre foi assim, de Paganini a Jesus Cristo, passando por Gandhi e Einstein. Mesmo no universo cotidiano, longe da constelação dos gênios, o novo incomoda. Buscamos o igual, o comum, o conhecido que não perturba. Tudo aquilo que nos é desconhecido gera ansiedade. Ao ter que lidar com o novo, é necessário sairmos da zona de conforto que o conhecido – aquilo a que já estamos acostumados, ambientados e para o qual já adquirimos estratégias de controle e enfrentamento – nos garante. O novo incomoda, pois irá impactar toda a estrutura prévia que cada sujeito possui e, consequentemente, exigirá que esse sujeito se reorganize.
A crítica ao futebol, feita por torcedores, dirigentes e mídia, alimenta-se do igual, do comum. Sempre que surge uma novidade, ela é vista com desconfiança. Raramente dá-se um voto de confiança ao novo, até que ele prove, de modo convincente, que é eficiente. De sua parte, a mesmice conservadora não precisa provar nada, tem o aval da crítica, geralmente, extremamente conservadora. Dá trabalho entender, adaptar-se e reorganizar-se diante do novo.
O termo “dinizismo” não surgiu para designar uma boa nova, mas para depreciar. Foi usado largamente como ironia a algo que, certamente, não daria certo, uma espécie de capricho de um jovem treinador metido a besta. Onde já se viu querer fugir ao 4-4-2, ao 4-3-3 etc.? Onde já se viu ficar “namorando” a bola em vez de ocupar, estrategicamente, os espaços do campo? Onde já se viu dizer que, antes do futebol, vem o ser humano? Onde já se viu querer ensinar os jogadores a jogar futebol, não um futebol qualquer, mas aquele parecido com o que antigamente se jogava na rua? E foi assim que “dinizismo” virou a ironia da vez, apenas aguardando o fracasso de Fernando Diniz, a fruta que apodreceria antes de amadurecer. O audacioso treinador teve que amargar as pancadas que recebeu por sua atuação no Atlético Paranaense, São Paulo, Vasco e outros, mesmo sem ter tido o tempo suficiente e reforços de bons jogadores para mostrar que conhecimento, convicção, dedicação e trabalho duro funcionam, mas precisam de tempo para se consolidar.
E não basta que tal disposição venha somente dos dirigentes, mídia e torcedores. Os jogadores, acostumados aos mesmos treinamentos, estilos de jogo, tratamento, discursos, visões de mundo, precisam, como dizemos no futebol, “comprar a ideia” do treinador. Precisam estar dispostos e se desorganizar para se reorganizarem novamente sob outra perspectiva. É como se tivessem que, já profissionais, reaprender a jogador futebol. O goleiro passa a ter, também, papel importante nas construções das jogadas; os zagueiros não devem mais temer o controle da bola “rifando-a” para onde estiverem virados, mas sim passá-la, conduzi-la e, por que não, arriscar-se ao ataque. Todos passam a ser criadores e articuladores, não mais somente o camisa 10. O centroavante, costumeiramente estático dentro da área, transforma-se num atacante móvel, dinâmico, que não só finaliza, mas também cria, passa, marca.
O Fluminense, com seus diretores lúcidos, apostou novamente na ideia de Diniz (a primeira passagem dele pelo Fluminense durou cerca de oito meses), deu a ele tempo e bons reforços, e ele pôde, com o apoio e disposição dos atletas, mostrar os resultados do trabalho desenvolvido por ele e sua comissão técnica. Imediatamente ganhou uma multidão de apreciadores, “dinizistas” desde criancinhas. Entretanto, vale frisar que o sucesso atual do Fluminense terá a estabilidade de qualquer jogo, ou seja, pouquíssima. Quem lida com o jogo sabe que o imprevisível é a marca mais distintiva de cada evento. Por melhor que a equipe esteja, eventualmente, sofrerá derrotas e poderá ter sequências negativas. É quando veremos se o “dinizismo” se manterá como termo apreciativo ou depreciativo.
O jogo não é um milagre, tampouco um evento que pode ser totalmente controlado. É um fenômeno lúdico interpretado por alguns animais e, especialmente, pelos seres humanos, que encontram, sobretudo no imprevisível, a oportunidade de viver em estado de graça. Por ser tão especial, é fugidio, instável, imprevisível, efêmero. Há que se desfrutar largamente dele enquanto acontece, porque o jogo nunca promete estabilidade. Diniz não é o único treinador talentoso no futebol brasileiro, tampouco o único a propor um novo jeito de olhar, compreender e praticar o futebol; há outros que acreditam em diferentes modos de jogar. A maioria não chega ao sucesso, ao reconhecimento. São destruídos antes que possam mostrar os frutos de seu trabalho. Mas Diniz é, de fato, um grande profissional e uma pessoa extraordinária. Não há segredo no que ele faz. Fernando Diniz trabalha muito, trabalha duro e se permite ser criativo, ser diferente, ser, acima de tudo, humano.
Texto por: João Batista Freire e Rafael Castellani