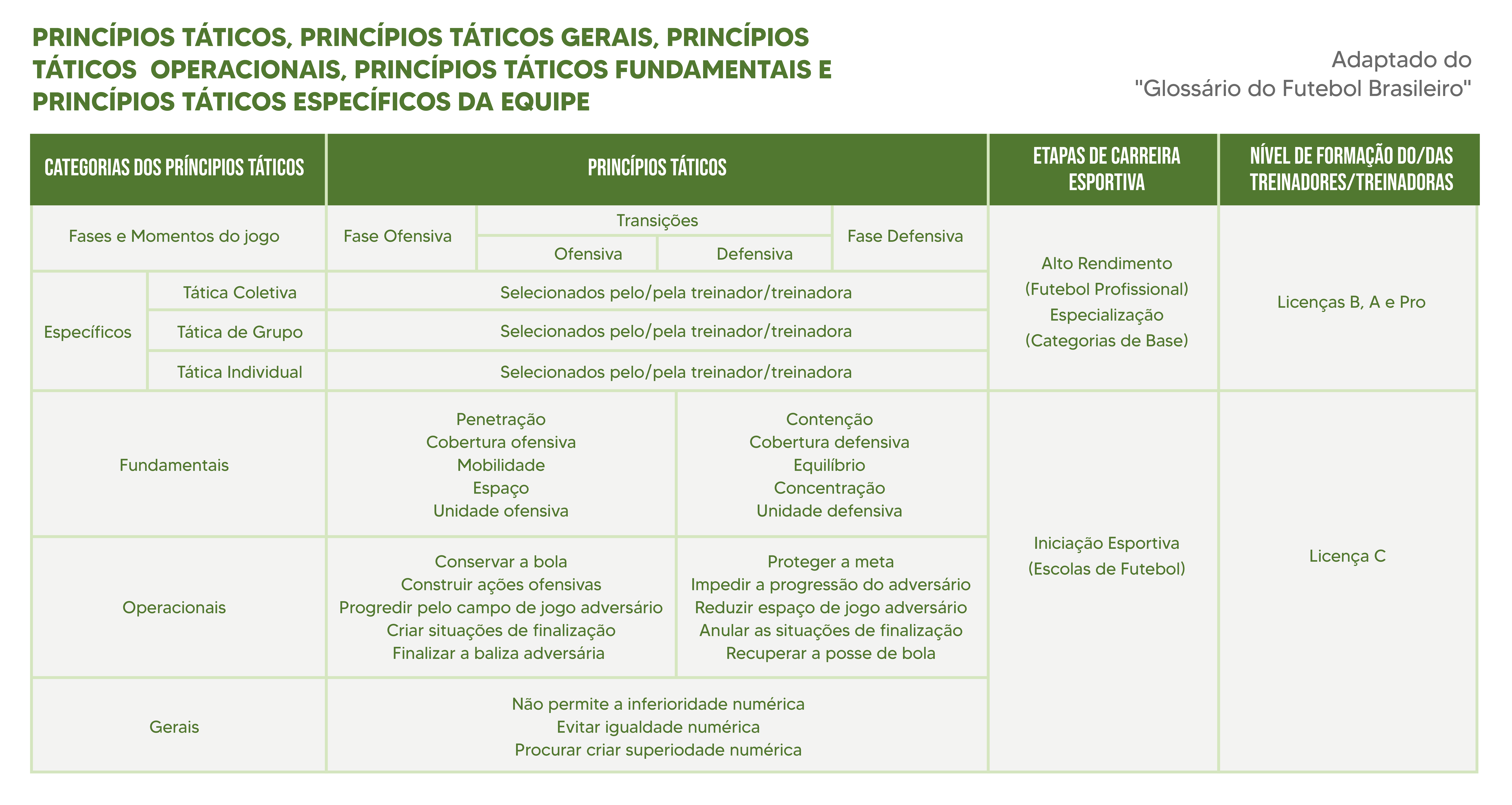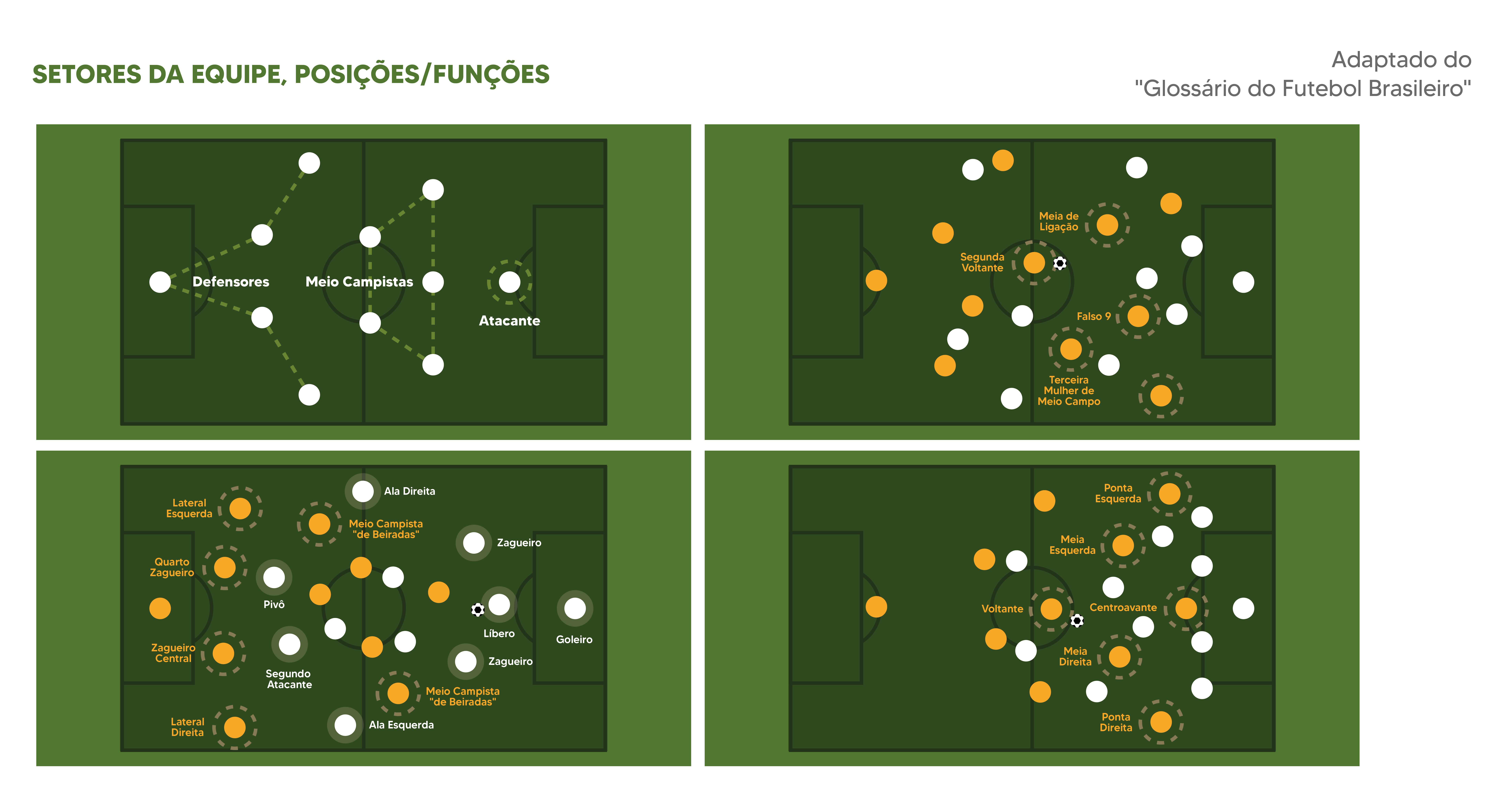Devemos considerar o futebol como um fenômeno complexo, no mesmo grau de complexidade que nos permite entender e interpretar a própria natureza humana. Se compreender seus processos fosse algo simples, como afirmam alguns, o ser humano não estaria levando milênios para entender a si mesmo.
(João Paulo S. Medina)
Estamos perdendo a noção do todo. A simples soma dos saberes especializados já não nos conduz satisfatoriamente aos resultados almejados. E é bom lembrar que não se trata de negar a especialização, mas sim de entender que é preciso muito mais do que apenas ela. Precisamos promover urgentemente a interação, a integração e a sinergia entre todas as áreas do conhecimento humano se quisermos dar conta dos problemas complexos que nos afligem. Mas como a forma de produzirmos o conhecimento pode contribuir para o desenvolvimento humano e, por extensão, para o desenvolvimento do futebol? É o que vamos tentar responder aqui ou, ao menos, contribuir para uma reflexão crítica a respeito do assunto.
Em princípio, podemos reconhecer quatro tipos básicos de conhecimento: vulgar ou empírico, científico, filosófico e teológico. O conhecimento vulgar ou empírico é aquele que adquirimos através de nossas experiências vividas. O conhecimento científico é aquele sustentado por métodos, investigações, pesquisas e conclusões, e que deve ser comprovado e reconhecido pela própria comunidade científica. Já o conhecimento filosófico é o resultado das reflexões críticas, rigorosas, radicais e de conjunto sobre a realidade em que vivemos, e que se distingue do conhecimento científico por apresentar maior dificuldade em termos de comprovação e objetividade, sem deixar de ser relevante. E, finalmente, temos o conhecimento teológico ou religioso, que se fundamenta na fé, na crença em determinados textos considerados sagrados ou divinos por seus adeptos (Bíblia, Alcorão, Torá, Vedas etc.), contendo explicações para os mistérios da vida, as quais objetivam promover certo conforto espiritual aos seus devotos. De uma maneira ou de outra, e dependendo da nossa visão de mundo, todos estes tipos de conhecimento nos influenciam na forma como interpretamos a realidade e nela intervimos.
Por outro lado, quando analisamos a capacidade que cada área especializada do saber tem para compreender os fenômenos em toda a sua complexidade, podemos identificar igualmente quatro formas de abordagem da realidade. São elas: a disciplinaridade, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que representam, na verdade, quatro modos distintos de produção do conhecimento.
Antes, porém, de entrarmos nos conceitos desses termos, gostaria de fazer algumas considerações preliminares. Até pouco tempo, vínhamos nos contentando, sem maiores questionamentos, com as abordagens detalhadas que os diferentes especialistas nos davam sobre os distintos fenômenos naturais ou humanos, através das diferentes áreas do saber. Aliás, este ainda é um princípio que adotamos em muitas situações mais pragmáticas. Se tivermos, por exemplo, uma grave lesão no joelho, nossa tendência não é a de procurar um clínico médico (generalista), mas sim o melhor especialista existente ou disponível. E para muitos de nós, não basta um especialista qualquer que cuide indistintamente de todo tipo de lesão. Tendo condições, gostaríamos de ser assistidos pelo melhor especialista para aquele tipo específico de lesão (ligamento, menisco, patela etc.). Este simples exemplo mostra-nos que, em certos aspectos, ainda adotamos na prática o paradigma da especialização.
Aos poucos, entretanto, esse modelo vai se mostrando inadequado para as novas exigências e novas realidades que a dinâmica da vida, através de sua história, nos impõe. Essa tendência obriga-nos a pensar em novas formas de produzir conhecimentos, permitindo intervenções práticas mais compatíveis com nossas necessidades.
Neste sentido é que queremos introduzir os conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, procurando entender seus impactos na produção de conhecimentos que nos auxiliem nas soluções dos problemas que se apresentam em nossas profissões e em nossas vidas. Embora não exista total uniformidade na conceituação desses termos, vamos adotar aqui as noções mais prevalentes nos trabalhos realizados por aqueles que estudam estas questões relativas à produção do conhecimento e suas aplicações, tais como Basarab Nicolescu, Guy Berger, Georges Gusdorf, Jean Piaget, Edgar Morin, Ilya Prigogine entre outros.
Mas antes de falarmos sobre multi, inter e transdisciplinaridade, vamos considerar o que entendemos por “disciplinaridade”.
DISCIPLINARIDADE
O termo “disciplina” pode representar tanto uma determinada matéria em uma instituição de ensino como também uma área específica do conhecimento humano de uma especialização profissional qualquer. Desta forma, chamamos de “disciplinaridade” a abordagem que agrega o conhecimento especializado de uma disciplina ou ramo da ciência. A disciplinaridade refere-se, portanto, a um conjunto específico de conhecimentos, com seus objetos, características e métodos próprios, sem relações aparentes com outras áreas do saber. Cada uma dessas áreas busca a compreensão dos fenômenos ou fatos através de sua leitura de mundo, própria, exclusiva e particular.
É sempre bom frisar que foi dentro deste modelo paradigmático que o conhecimento evoluiu na grande maioria das áreas do saber, em especial durante o século 20. As conquistas e a evolução científica e tecnológica devem muito a este modelo. Através dele, as diferentes especializações desenvolveram-se amplamente, de forma rigorosa e tendendo à sua autossuficiência. Entretanto, esse modelo paradigmático de produção do conhecimento que, como já destacamos, tanto progresso trouxe à humanidade, começou a apresentar sinais de esgotamento, exigindo-se novas abordagens para a compreensão da realidade. A visão especialista, por si só, já não é suficiente para entendermos a complexidade dos problemas que nos afligem.
Neste contexto é que surge a necessidade de buscarmos outros modos de produção do conhecimento, e a partir daí surgem os conceitos e as abordagens multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.
MULTIDISCIPLINARIDADE (ou PLURIDISCIPLINARIDADE)
É a abordagem que faz a justaposição de duas ou mais disciplinas na busca de uma melhor compreensão dos fatos ou fenômenos. Entretanto, esta aproximação entre as diferentes áreas mantém, em essência, a natureza própria da especificidade de cada uma delas. Isto significa que um assunto pode ser trabalhado em várias disciplinas, mas cada uma delas continua seguindo seus próprios objetos, características e métodos. Não há uma tentativa de síntese entre as diferentes áreas do conhecimento. Por isso que é muito comum, nas “reuniões multidisciplinares”, no esporte ou fora dele, a utilização de adágios tais como “se cada um fizer bem a sua parte, tudo funcionará perfeitamente” ou ainda “para um bom entendimento entre nós – especialistas em áreas específicas do saber – é preciso que cada um respeite a área do outro”. A multidisciplinaridade é uma primeira manifestação ou reação às limitações do conhecimento disciplinar superespecializado (disciplinaridade), mas, como podemos deduzir, esta é também uma abordagem que apresenta limitações no sentido de uma compreensão mais ampliada da realidade.
É preciso destacar que, apesar de suas limitações, esta perspectiva é ainda muito utilizada no futebol. Embora haja um esforço para a realização de um trabalho mais integrado entre as diferentes atividades profissionais (das comissões técnicas, por exemplo), o que se observa, na prática, é certo distanciamento entre as diferentes áreas do conhecimento, impedindo ou restringindo uma maior evolução na realização de um autêntico trabalho em equipe.
INTERDISCIPLINARIDADE
É a abordagem que busca a interação e a cooperação entre duas ou mais disciplinas. Diferentemente da multidisciplinaridade, existe aqui um fator de coesão entre saberes distintos. No ambiente interdisciplinar, não há, por parte de cada um dos profissionais das diferentes áreas do conhecimento, uma atitude com o objetivo – explícito ou velado – de “proteger” a sua própria área de conhecimento. É bem verdade que, na prática, às vezes se torna difícil saber se estamos adotando uma postura multidisciplinar ou interdisciplinar. Essas diferenças, em alguns casos, são tênues ou sutis. A interação e cooperação entre duas ou mais disciplinas dependem fundamentalmente de atitudes subjetivas dos próprios atores que participam do processo de construção do conhecimento, em que os espaços de conhecimentos comuns e específicos são abertos e todos podem opinar e influenciar, sem muitas restrições ou melindres. Segundo Guy Berger, “essas diferenças podem variar desde a simples comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização de um conjunto de conhecimentos, da investigação ou do ensino correspondente”.
Ainda no terreno prático, o que se observa é que, muitas vezes, um grupo interdisciplinar é composto por pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios, e portanto exige-se um esforço de todos para que possam exercer uma autêntica interdisciplinaridade.
Conforme nos ensina Georges Gusdorf, “os especialistas das diversas disciplinas devem estar animados de uma vontade comum e de uma boa vontade. Cada qual deve aceitar esforçar-se fora do seu domínio próprio e da sua própria linguagem técnica especialista para aventurar-se num domínio de que não é proprietário exclusivo”. A interdisciplinaridade pressupõe abertura de pensamento, curiosidade que se busca além de si mesmo.
No futebol só recentemente começamos a pensar mais amplamente em ações que assumam esta característica interdisciplinar. Embora o termo seja cada vez mais frequente na fala dos agentes que produzem conhecimento no futebol, representados por diferentes profissionais especialistas, ainda é raro observar-se, na prática, a adoção desta abordagem de forma mais consciente e coletiva.
TRANSDISCIPLINARIDADE
Representa, segundo Edgar Morin, um dos principais estudiosos deste tema, o estágio mais avançado entre os modos de produção do conhecimento. De forma semelhante à interdisciplinaridade, busca compreender o conhecimento como algo além do que é produzido pelas disciplinas, estas que, como sabemos, têm seus objetos, características, linguagens e métodos próprios. Mas ultrapassa o conceito de interdisciplinaridade na medida em que, além de exigir uma postura e uma atitude de total abertura e respeito à diversidade e a complexidade de todos os fenômenos, reconhece que não há referenciais – culturais, étnicos, científicos, religiosos – privilegiados para julgar como mais corretos ou verdadeiros determinado conjunto de conhecimentos, crenças ou valores.
Também diferentemente da interdisciplinaridade, que procura integrar as distintas linguagens características de cada área do saber, a transdisciplinaridade busca a construção de um único domínio linguístico, capaz de refletir a multidimensionalidade da realidade. Igualmente ao modo de produção do conhecimento interdisciplinar, a transdisciplinaridade exige a cooperação, a coordenação e a sinergia entre as disciplinas, mas fundamentalmente com a intenção ou objetivo de transcendê-las.
É por isso que dizemos que a transdisciplinaridade aponta para um conhecimento que está ao mesmo tempo entre, através e, sobretudo, além de todas as disciplinas. Ela significa o reconhecimento da interdependência de todos os aspectos da realidade, buscando a unidade do conhecimento. Seu objetivo é a tentativa de compreensão da realidade como um todo e não de fragmentos dela, como se propõe cada disciplina ou área do conhecimento. Questiona, inclusive, a supremacia absoluta do conhecimento científico, quando adota pressupostos imutáveis de objetividade, previsibilidade e certezas.
A transdisciplinaridade é considerada, por alguns estudiosos, como um movimento de reintegração da ciência, da arte e das tradições espirituais em busca de uma compreensão mais ampla da realidade ou do mundo em que vivemos. Para isso, é preciso levar em conta todos os aspectos que envolvem a nossa existência, dentro de toda a sua complexidade. Não é possível entendê-la considerando somente os aspectos estritamente objetivos da realidade, uma vez que dela fazem parte também muitos aspectos subjetivos e intersubjetivos, permeados por nossa cultura que, por sua vez, é carregada de crenças, costumes, tradições, valores, sentimentos, emoções, intuições etc.
Esta abordagem transdisciplinar muda radicalmente a tradicional postura científica que não admite subjetividades em seu espectro de análise da realidade. É, portanto, uma maneira de encararmos o mundo, a vida e mesmo as nossas profissões, dentro de um novo modelo paradigmático. É, por conseguinte, uma proposta que, no nosso modo de ver, pode contribuir para mudanças radicais na forma pela qual o futebol é visto, gestado, concebido, administrado e praticado.