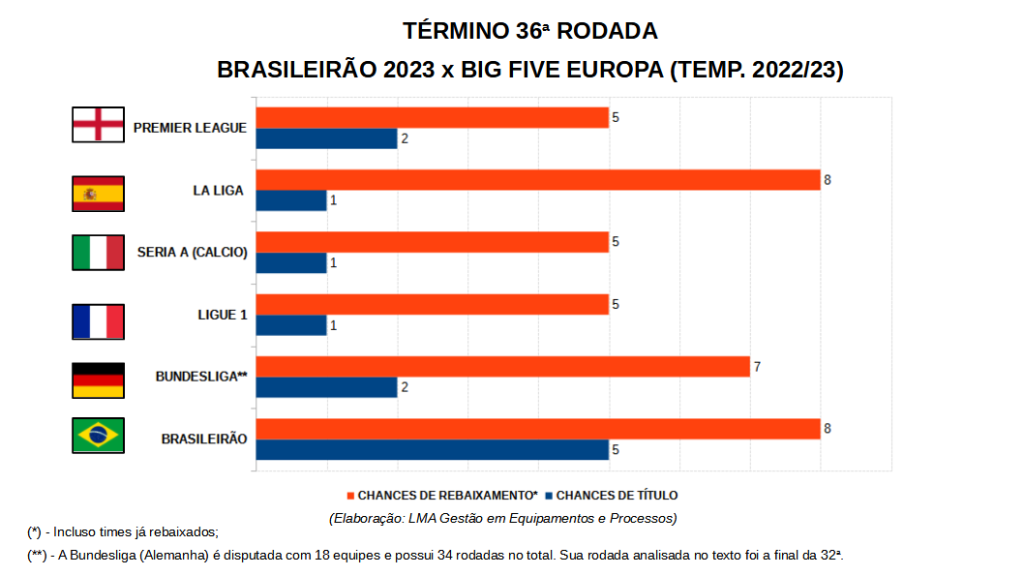João Batista Freire & Rafael Castellani
Assistimos recentemente a um vídeo em que alguns pais vaiavam um garotinho de uns seis anos, aproximadamente, porque ele, brincando de ser goleiro durante um jogo entre crianças, tomou um gol. Cenas como essa, lamentavelmente, são mais frequentes do que imaginamos.
No decorrer de nossa trajetória profissional, de décadas, como professores de Educação Física, lidando com a formação, acadêmica e cidadã, de jovens na Universidade, de crianças em escolas da educação básica e escolas de esporte, de jovens esportistas e com treinamento de alto rendimento em diversas modalidades, principalmente no futebol, cansamos de assistir cenas semelhantes às do vídeo em que o garotinho é vaiado. São cenas de humilhação e de abuso.
Crianças são frequentemente abusadas no esporte, ou porque são humilhadas, ou porque são submetidas a treinamentos exaustivos e de especialização precocemente, ou porque passam a ser responsáveis, desde muito cedo, pelo sustento da família, ou porque são agredidas verbalmente por pais, professores, técnicos, torcida.
São inúmeras as situações presenciadas por nós que denotam o quão abusiva e humilhante é, ou pode ser, a prática esportiva realizada por crianças e jovens: O que pensar quando um pai pula o alambrado e invade o campo para bater em uma criança que tinha feito uma falta no filho dele? Por sorte esse pai foi contido a tempo por algumas pessoas com juízo, mas a violência já estava manifestada. Ou então, outro fato muito frequente, vaias e xingamentos de alguns pais contra o professor das crianças ou até contra as próprias crianças da equipe adversária.
Em 24 de setembro de 1990 o Brasil ratificou a Convenção Sobre os Direitos da Criança, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989. No artigo 31 dessa convenção, lê-se que “Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística.” (O Brasil é um Estado Parte). No Artigo 32, a Convenção declara que “Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de ser protegida contra a exploração econômica e contra a realização de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja prejudicial para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.”

Em nosso país, ratificamos solenemente a convenção, mas, na prática, pouco se fez. Em 1990 criamos no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, apesar da sua importância e do avanço que significou para a proteção de crianças e adolescentes, ainda são diariamente desrespeitados, passam fome, morrem de doenças que não deveriam mais existir, recebem educação de péssima qualidade, meninos e meninas (principalmente) são violentadas dentro das próprias famílias. Tivemos avanços, sem dúvidas, mas o prejuízo ainda é gigantesco. Já não se permite mais o trabalho antes dos 16 anos (embora ele exista em alguns lugares), mas, no esporte, é diferente. No futebol, por exemplo, uma criança de 14 anos, ou menos, pode ser submetida a treinamentos quase idênticos aos que realizam atletas profissionais adultos. Para dar conta das inúmeras sessões de treinamentos e competições, perdem dias, semanas e até meses de aulas. Crianças de 14 anos deixam suas residências, seus familiares e amigos para morar em alojamentos dos clubes com a missão de representar aqueles poucos (cerca de 3%) que conseguem a profissionalização no futebol. Antes mesmo dos 14 anos, algumas crianças arcam com a responsabilidade de garantir o sustento da família e alimentam a esperança de ascensão social. Crianças que possuem o sonho de tornar-se jogador ou jogadora profissional de futebol, podem sofrer abusos (inclusive, sexuais) no ambiente nem sempre confiável e seguro do futebol. Geralmente silenciam sua dor e escondem seu sofrimento com medo de terem que interromper esse sonho ou frustrarem seus familiares.
Um futebol que foi forjado em brincadeiras de rua, nos clubes proíbe a brincadeira, em nítido desrespeito à convenção da ONU ratificada pelo Brasil. Cada vez mais cedo ocorre a especialização esportiva. Já existe a categoria de crianças de 6 anos de idade (sub 7). Daqui a pouco sub-6, 5, 4… aonde chegaremos? Há projetos em análise que diminuem para 12 anos a idade mínima para uma criança poder alojar-se em clubes. Contratos são feitos clandestinamente com as famílias para garantir aos agentes a exclusividade dos negócios, caso a criança se torne jogadora habilidosa e tenha seu potencial reconhecido no mundo do futebol.
No futebol brasileiro, criança não pode ser criança. Aquilo que foi escrito na Convenção Sobre os Direitos da Criança da ONU foi rasgado e jogado no lixo. Deveria ser um caso para o Ministério Público (MP), Conselho Tutelar, Unicef, não só no futebol, mas em qualquer modalidade esportiva. Com raras exceções, sobretudo a partir de denúncias grandes/graves e de viés jornalístico, MP, Conselho Tutelar e demais instâncias responsáveis por garantir a segurança e direitos das crianças e adolescentes pouco têm conseguido fazer.
Sem contar a estupidez dos métodos. Professores e treinadores, alimentados pelo ego e orgulho de “revelar” grandes talentos, impulsionados por alguns agentes inescrupulosos, adestram pequenas crianças para que alimentem os lucros dos gananciosos que, sem qualquer pudor, arrancam o couro dos pequenos e pequenas, sugam-lhes as entranhas em busca do ouro que elas podem representar alguns anos adiante. É preciso que tratemos as crianças como crianças. Que devolvamos o jogo a elas. Que possam voltar a brincar e se divertir com o futebol e, acima de tudo, que sejam respeitadas e tenham os seus direitos garantidos.